Lélia Gonzalez, onipresente
Mulher, negra, intelectual e ativista foi pioneira nas discussões sobre relação entre gênero e raça, ao propor uma visão afro-latino-americana do feminismo. A abrangência de seu pensamento, que atravessa filosofia, psicanálise e candomblé, pode ser vista em uma nova coletânea, a primeira em uma editora comercial


Para entender e desconstruir o lugar do negro na sociedade brasileira, Lélia Gonzalez (Belo Horizonte, 1935-1994) esteve em todos os lugares. Filha de pais pobres, um operário negro e uma empregada doméstica descendente de indígenas, teve a oportunidade de estudar e se formou historiadora e filósofa. Já “perfeitamente embranquecida, dentro do sistema”, encontrou no mundo acadêmico contradições e barreiras sociais que a levaram para a militância no feminismo e no movimento negro. Lançou mão da psicanálise e do candomblé para explicar a cultura brasileira. Foi intelectual, ativista e política: participou da formação do PT, foi do PDT, atuou nas discussões sobre a Constituição de 1988 e integrou o primeiro Conselho Nacional dos Direitos da Mulher, na mesma década. Correu o mundo e, ao representar o Brasil em debates sobre as condições de exploração e opressão dos negros e das mulheres em eventos nos Estados Unidos, na África e na América Latina, conjugou experiências e criou um marco conceitual para a compreensão da identidade brasileira e de seus irmãos de continente: a amefricanidade.
“Por que vocês precisam buscar uma referência nos Estados Unidos? Eu aprendo mais com Lélia Gonzalez do que vocês comigo”, resumiu Angela Davis, ícone do feminismo negro norte-americano, ao visitar o Brasil em 2019, num indicativo de que os brasileiros precisam reconhecer mais a sua própria pensadora, uma das pioneiras nas discussões sobre a relação entre gênero, classe e raça no mundo.
Por todos os lugares —sociais e geográficos— onde esteve em seus 59 anos de vida, Lélia Gonzalez deixou uma produção intelectual intensa e original, que mistura saberes e vivências de diversas áreas e marcou uma geração de militantes negras. A abrangência e a atualidade de seu pensamento podem ser vistas na coletânea Por um feminismo afro-latino-americano, lançada nesta segunda-feira pela editora Zahar. A obra reúne textos de 1975 a 1994, período que compreendeu o fortalecimento de movimentos sociais e a redemocratização, processos dos quais Gonzalez participou ativamente. O livro abrange ensaios acadêmicos, artigos para a grande imprensa e jornais alternativos, entrevistas e registros de palestras em diversos congressos internacionais —ela dominava o inglês, o francês e o espanhol.
Não se trata propriamente de um resgate, mesmo que alguns desses textos tenham sido garimpados em bibliotecas do exterior e traduzidos para o público brasileiro pela primeira vez. A filósofa sempre foi uma autora lida entre os intelectuais negros, e parte da produção apresentada agora circulou em outras publicações acadêmicas e independentes —em vida, Gonzalez publicou os livros Lugar de negro (1982, em parceria com o argentino Carlos Hasenbalg) e Festas populares no Brasil (1987). Porém é só agora que seu trabalho é difundido por uma grande editora comercial. “É muito difícil aceitar que uma autora tão relevante, tão expressiva, tenha ficado no ocultamento por tanto tempo”, afirma a socióloga Flavia Rios, uma das organizadoras do novo livro e coautora de uma biografia de Gonzalez. Ela explica que é recente o interesse do mercado editorial por autores negros e que, quando isso ocorreu, privilegiou os estrangeiros. No caso das mulheres, uma primavera feminista forçou a aposta em escritoras negras norte-americanas, como Davis, bell hooks e Audre Lorde, e africanas, como a nigeriana Chimamanda Ngozi Adichie. “Então Lélia Gonzalez ficou de certa forma marginal nessa produção, principalmente devido a esse perfil editorial que gera a invisibilidade de certos autores. As editoras demoraram a entender que existe um público para eles”, afirma Rios, que é professora da Universidade Federal Fluminense (UFF).

“Lélia Gonzalez é uma intérprete do Brasil, e esse é um lugar que os intelectuais negros ainda não conseguiram ocupar na sociedade brasileira”, afirma Márcia Lima, também organizadora da nova coletânea e professora do Departamento de Sociologia da USP, ressaltando o silenciamento da produção de pessoas negras também na academia. Esse processo, chamado de epistemicídio, foi estudado pela filósofa e educadora Sueli Carneiro, referência no feminismo negro e uma admiradora do trabalho de Gonzalez. “Nunca encontrei Lélia Gonzalez como referência bibliográfica de nenhuma das inúmeras disciplinas que cursei em mais de uma década na universidade e, no entanto, ela é uma pensadora determinante na formação política e intelectual das mulheres negras de minha geração”, comenta Carneiro. Para Lima, o predomínio de autores brancos na bibliografia de cursos só está sendo quebrado pela pressão dos jovens negros, hoje maioria dos ingressantes nas universidades públicas do Brasil, que estão reivindicando a leitura de outros —e outras— intelectuais. “É uma mudança que vem mais pela força e pela demanda da juventude negra, feminina e feminista, do que uma mudança de paradigma das universidades”, analisa.
Apesar do atraso, a obra de Gonzalez está na ordem do dia. Ao propor uma nova visão do feminismo, que considere o caráter multirracial e pluricultural da América Latina, em contraposição à visão eurocêntrica, ela discutiu, ainda nas décadas de setenta e oitenta, o que hoje se aproxima dos conceitos de feminismo interseccional (que incorpora as desigualdades de raça e classe) e decolonial (que questiona a ordem econômica e de pensamento de grupos dominadores). “Por um feminismo afro-latino-americano”, o texto que dá nome à coletânea, foi apresentado em 1988 na Bolívia. Nele Gonzalez afirma que o movimento de mulheres na América Latina repete práticas de exclusão e dominação racista das quais “negras e indígenas são testemunhas vivas”. Usando conceitos da psicanálise de Jacques Lacan (1901-1981), questiona o fato de mulheres não brancas serem o objeto de análise de outros sujeitos, “faladas, definidas e classificadas por um sistema ideológico de dominação que nos infantiliza” —em seus textos, é comum o uso da primeira pessoa do plural para tratar das questões sociais.
“É inegável que o feminismo, como teoria e prática, desempenhou um papel fundamental em nossas lutas e conquistas, na medida em que, ao apresentar novas questões, não apenas estimulou a formação de grupos e redes mas também desenvolveu a busca por uma nova maneira de ser mulher”, escreve a autora, uma feminista de primeira hora. “[Mas] Lidar, por exemplo, com a divisão sexual do trabalho sem articulá-la com a correspondente ao nível racial é cair em uma espécie de racionalismo universal abstrato, típico de um discurso masculinizante e branco”, escreve Gonzalez.
Tanto Lima quanto Rios ressaltam que o texto de Gonzalez se coloca na vanguarda ao trabalhar a desigualdade de gênero e raça incluindo a questão do território —primeiro nacional e depois continental. “A visão da Lélia é rara por pensar além do nacional”, afirma Rios. “O feminismo norte-americano, que a gente lê e traduz bastante, pensa em uma situação a partir da sua própria realidade. A gente se reconhece nela, mas Lélia dá um passo a mais ao pensar no continente, e faz isso nos anos oitenta. Mesmo uma Angela Davis, que depois se internacionalizou ao abordar a questão palestina, não tinha feito isso ainda”, salienta. “É uma ideia muito poderosa em termos históricos, principalmente porque o Brasil tem uma tendência muito grande de se distanciar da América Latina por questões como a língua”, afirma Lima.
No início, Lélia de Almeida
Lélia de Almeida, que teria feito 85 anos neste 2020, foi a penúltima de 18 filhos. Nascida em Belo Horizonte, aos sete se mudou para o Rio de Janeiro após um acontecimento insólito na vida de uma família sem oportunidades. Um de seus irmãos, 15 anos mais velho, foi convidado para jogar futebol no Flamengo —era Jaime de Almeida (1920-1973), que se tornaria ídolo rubro-negro na década de quarenta e foi pai de Jayme de Almeida Filho, ex-treinador do clube.
Mesmo na nova cidade e recebendo “tratamento de neta” pelos pais, a menina lutou para escapar do “esquema ideológico internalizado pela família”, em que se estudava até a escola primária e, “depois, todo mundo ia à batalha em termos de trabalho para ajudar a sustentar o resto da família”, como ela mesma contou em uma entrevista e como também registram seus biógrafos Flavia Rios e Alex Ratts. Chegou a trabalhar como babá de filhos de diretores do Flamengo, mas reagiu e conseguiu seguir os estudos. Aluna dedicada, nos anos cinquenta concluiu o secundário no tradicional colégio Pedro II, de ensino público, onde teve uma formação erudita clássica. “Passei por aquele processo que eu chamo de lavagem cerebral dado pelo discurso pedagógico brasileiro, porque na medida em que eu aprofundava meus conhecimentos, eu rejeitava cada vez mais a minha condição de negra”, afirmou, no depoimento para o livro Patrulhas ideológicas, de 1980.
A jovem se graduou em história e geografia pela Universidade do Estado da Guanabara, hoje Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Uerj). Depois, fez filosofia na mesma instituição. “Na faculdade eu já era uma pessoa de cuca já perfeitamente embranquecida, dentro do sistema. Eu fiz filosofia e história. E, a partir daí, começaram as contradições.” As reflexões sobre a questão racial se acentuaram na época do seu casamento com o espanhol Luiz Carlos Gonzalez, amigo da faculdade, em 1964. A família do rapaz branco não aceitava a relação. “Pronto, daí aquilo que estava reprimido, todo um processo de internalização de um discurso ‘democrático racial’ veio à tona, e foi um contato direto com uma realidade muito dura”, relatou.
A vida da então professora mudou com a morte do marido, por suicídio, um ano depois. Foi quando ela, já com 30 anos, mergulhou em duas áreas nas quais buscou cura e autoconhecimento e que acabaram virando referência em seu trabalho: a psicanálise e o candomblé.
“Com a Lélia era assim: ela começava a se interessar por psicanálise, então ia na livraria e comprava tudo de Freud, tudo de Jung. Ela lia tudo de um assunto, não lia só uma coisa”, conta a amiga Ana Maria Felippe, de 76 anos, que era ainda adolescente quando conheceu Lélia Gonzalez —de quem foi aluna no colégio e depois na faculdade de filosofia. “A Lélia foi um facho de luz que apareceu na minha frente e eu me agarrei nele”, brinca Felippe. Durante anos, ela manteve um site em homenagem à pensadora e atualmente alimenta a página do Facebook Memorial Lélia Gonzalez.
As incursões de Gonzalez em áreas tão distintas fizeram dela uma referência. Em 1975, ela ajudou a fundar o Instituto de Pesquisa das Culturas Negras e o Colégio Freudiano do Rio de Janeiro. Em 1976, ministrou o primeiro curso institucional de cultura negra do país, na Escola de Artes Visuais do Parque Lage. Flavia Rios, da UFF, aponta que com essas temáticas Gonzalez tinha uma relação íntima, mas também prática, de produção do saber. “Para a Lélia era tudo conhecimento”, afirma Rios. Felippe reforça essa visão: “Sem saber o palavrão da transdisciplinaridade, ela já fazia isso”, diz.
Em seus textos, além de combinar saberes, Gonzalez adota um estilo peculiar, com uso de uma linguagem informal e irreverente para abordar esses conceitos. Em “Racismo e sexismo na cultura brasileira”, artigo apresentado em 1980, ela disserta sobre o papel da mulher negra no processo de formação cultural do país e questiona a origem dos lugares sociais da população negra, desconstruindo o trabalho de cânones homens e brancos. “Cabe de novo perguntar: como é que a gente chegou a este estado de coisas, com abolição e tudo em cima? Quem responde é um branco muito importante (pois é cientista social, uai) chamado Caio Prado Jr. Num livro chamado Formação do Brasil contemporâneo, ele diz uma porção de coisas interessantes sobre o tema da escravidão”, escreve. Em outro trecho, tendo sublinhado que os negros estariam “na lata de lixo da sociedade brasileira, pois assim o determina a lógica da dominação”, ela provoca: “Neste trabalho assumimos nossa própria fala. Ou seja, o lixo vai falar, e numa boa”.

“Lélia era griot, era falante”, comenta sua amiga Felippe, que lembra que a pesquisadora falava muitas vezes de improviso, com base em tópicos, em suas aulas e palestras, modulando o seu discurso conforme a reação do público. “Ela tinha todo o fundamento teórico, mas ela queria chegar na pessoa.” Conseguia: “Desde que vi e ouvi Lélia Gonzalez pela primeira vez, me decidi politicamente pela militância na questão da mulher negra”, recorda Sueli Carneiro. A diretora do Geledés Instituto da Mulher Negra assistiu a uma palestra de Gonzalez no fim dos anos setenta, em um seminário feminista na Biblioteca Mário de Andrade, em São Paulo, no qual ela era a única oradora negra. Carneiro relata que Gonzalez tinha carisma inigualável. “O que mais me impactava em sua fala era sua capacidade de traduzir as experiências e vivências das mulheres negras como se ela tivesse o poder de perscrutar corações e mentes, sintetizar e vocalizar, dores e inquietações que nos afligiam e que não conseguíamos elaborar por nós mesmas”, relata a pensadora paulistana, hoje com 70 anos. Carneiro conta que fundação do Geledés, por exemplo, foi influenciada pelo Nzinga, coletivo de mulheres negras criado por Gonzalez e outras ativistas em 1983.
Pensamento e ação
Foi perto dos 40 anos que Lélia Gonzalez, já uma intelectual respeitada, começou a militar no movimento negro. Era a década de setenta, época em que, como ela narrou no livro Lugar de negro, “uma negadinha jovem começou a atentar para certos acontecimentos de caráter internacional, a luta pelos direitos civis nos Estados Unidos e as guerras de libertação dos povos negro-africanos de língua portuguesa”, reavivando a articulação silenciada pelo golpe militar de 1964. O trabalho na difusão da cultura afro-brasileira já havia levado a pesquisadora participar do Grêmio Recreativo de Arte Negra e Escola de Samba Quilombo, fundada pelo sambista Candeia (1935-1978) no Rio, e a entidade foi uma das apoiadoras de uma mobilização que surgia em São Paulo e que depois viraria nacional: o Movimento Negro Unificado (MNU), lançado em 1978 em um ato que marcou a volta dos protestos de rua por justiça racial no país em plena ditadura. Gonzalez foi a escolhida por Candeia para representar a escola de samba na manifestação e, a partir daí, ela ajudou a fundar e a consolidar o movimento.
Tornou-se ativista, e foi na sua própria casa, no Cosme Velho, que ocorreram muitas das reuniões com os militantes, conta o filho Rubens Rufino, de 59 anos, sobrinho biológico, mas criado por ela. Aos sábados, os dois participavam de encontros com outros intelectuais negros no Teatro Opinião, ambiente de protesto e resistência que tinha à frente nomes como Ferreira Gullar (1930-2016). “Eu tinha 15 anos e ela me levava para eu começar a entender a questão do racismo, que eu já sentia na pele. Com esses debates, eu consegui superar situações muito graves que vieram depois”, afirma o Rufino.
Gonzalez se manteve pensadora no movimento: defendia, por exemplo, a importância do conhecimento das raízes africanas para a conscientização dos militantes, e por isso elogiava a dinâmica das articulações no Rio e na Bahia. “O negro paulista tem uma puta consciência política. Ele já leu Marx, Gramsci, já leu esse pessoal todo. Discutem, fazem, acontecem etc. e tal. Mas de repente você pergunta: você sabe o que é iorubá? Você sabe o que é axé?”, contou em entrevista. Segundo Rios, a vivência no candomblé foi preponderante na sua visão política. “Mesmo sendo muito marxista na sua análise, ela entendeu que o candomblé tinha um lugar social, cultural e espiritual importante e que isso não era alienante. Ela vê com bons olhos a experiência da religiosidade no mundo da política”, afirma.
Gonzalez influenciou na conscientização e mobilização de mulheres negras, pois viu que, assim como no movimento feminista havia a manutenção da ideologia racista, o movimento negro tampouco escapava da mentalidade machista, o que apontava para a necessidade de um espaço próprio de discussão. “Foi a partir da convivência com essas irmãs que passei a me preocupar e trabalhar sobre a nossa especificidade. E nesse trabalho tem dado para sacar, por exemplo, que pelo fato de não ser educada para se casar com um ‘príncipe encantado’, mas para o trabalho, a mulher negra não faz o gênero da submissa. Sua prática cotidiana faz dela alguém que tem consciência de que lhe cabe batalhar pelo ‘leite das crianças’ [...], sem contar muito com o companheiro (desemprego, violência policial e outros efeitos do racismo e também do sexismo)”, escreveu em Lugar de negro.
Em 1981, Gonzalez começou a fazer palestras para o recém-criado Partido dos Trabalhadores. “Ela estava sendo convidada para entrar para o partido, que fazia a sua primeira reunião para tratar da questão racial no Brasil. Deu um show”, conta a atual deputada federal Benedita da Silva —candidata do PT à Prefeitura do Rio—, que a conheceu naquela época e se tornou sua amiga. Já na sigla, Lélia Gonzalez concorreu em 1982 a deputada federal. “Fui a segunda mais votada. Dancei por oitocentos votos, mas foi uma experiência interessante”, contou em 1986 em uma entrevista para o extinto O Pasquim. Após o pleito, ela passou a trabalhar como assessora da colega de partido, eleita vereadora. “O que eu gostava na Lélia era que, apesar de ser quem era [uma intelectual renomada], ela era uma pessoa simples. Acho que uma outra pessoa na posição dela não ia querer ser assessora de uma Benedita vereadora, primeiro mandato, mas ela foi. Escrevia minhas palestras, me levou a muitos lugares”, relembra a deputada, hoje com 78 anos.
Lélia Gonzalez em livros

Por um feminismo afro-latino-americano (Zahar, 2020)
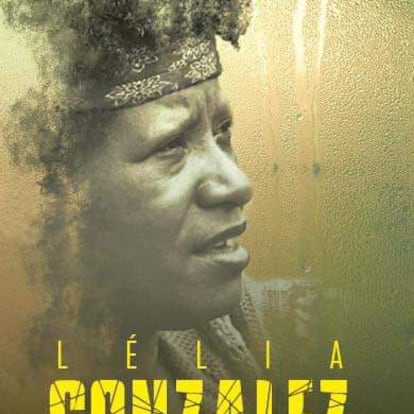
Lélia Gonzalez - Primavera para as rosas negras (UPCA, 2018)
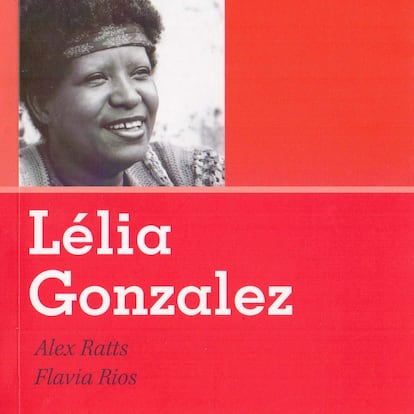
Lélia Gonzalez (Selo Negro, 2010)

Festas populares no Brasil (Index, 1987)
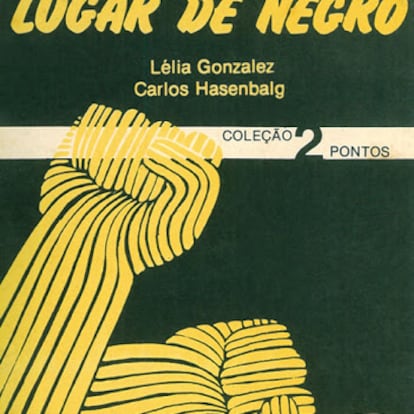
Lugar de negro (Marco Zero, 1982)
A atuação da pesquisadora no partido não foi sempre pacífica. Em 1983, em um artigo intitulado “Racismo por omissão” e publicado no jornal Folha de S.Paulo, ela criticou a ausência da temática racial em uma peça do PT veiculada em rede televisiva nacional. “O ato falho com relação ao negro e que marcou a apresentação do PT pareceu-me de extrema gravidade não só porque alguns oradores que ali estiveram possuem nítida ascendência negra, mas porque se falou de um sonho; um sonho que se pretende igualitário, democrático etc., mas exclusivo e excludente. Um sonho europeizantemente europeu”, escreveu. “Ela foi generosa. Falou de omissão, mas poderia ter falado outras coisas”, comenta, com humor, Benedita da Silva, que diz que a reflexão proposta pela colega foi importante para a sigla. “Aí o partido começou a discutir criar um núcleo para a questão racial e depois o núcleo passou a ser uma secretaria. Hoje nós temos uma secretaria de igualdade racial.” Três anos depois de escrever o artigo, Gonzalez saiu da legenda e se filiou ao PDT —concorreu a deputada estadual pelo Rio, mas novamente não se elegeu.
A intelectual teve outras atuações relevantes no mundo da política: participou da Assembleia Nacional Constituinte, escrevendo discursos e elaborando propostas do movimento negro, e integrou o primeiro Conselho Nacional dos Direitos da Mulher, formado no Governo José Sarney (1985-1990) para promover políticas contra a discriminação de gênero e do qual também saiu insatisfeita com o andamento das discussões. “Na política ela não conseguia fazer a essência dela funcionar", comenta o filho.

Acostumada a uma agenda intensa, Lélia Gonzalez reduziu as aparições quando, em 1992, foi diagnosticada com diabetes mellitus. Com a doença, emagreceu, chegando a pesar 45 quilos, e teve como sequelas hipertensão e problemas cardíacos. “Foi um período muito triste. Ela não queria receber ninguém”, conta Benedita da Silva. Mesmo precisando de ajuda para se locomover da casa para a universidade, ela concentrou as energias que restavam na atividade acadêmica e continuou a dar aulas no Departamento de Sociologia e Política da PUC-Rio. Em 10 de julho de 1994, dois meses após ser escolhida diretora desse departamento, ela sofreu um infarto do miocárdio e morreu, aos 59 anos.
Para Flavia Rios, todos os lugares por onde Gonzalez passou confluíram para uma linha de pensamento nem sempre associada à sua imagem, mas importante de ser ressaltada nos tempos atuais: a defesa da democracia. “Ela esteve na formação das principais organizações que lutaram contra a ditadura. No movimento negro, no movimento feminista, nos dois principais partidos de oposição que emergiram no final da ditadura, na Constituinte, no conselho de mulheres. Ela não só pensou a democracia como ela esteve na base dessas instituições.” Segundo ela, a intelectual e ativista atrelava a justiça racial e de gênero a um regime político de liberdades e igualdades.
Em 18 de novembro no 1983, às vésperas do Dia da Consciência Negra, Lélia Gonzalez discursava nas ruas do Rio: “Vamos à luta, companheiros, para que a exploração e a opressão terminem nesse país. Para ser uma democracia racial, esse país precisa ser efetivamente uma democracia”.