Em busca do sonho perdido
Por que sonhamos? O neurobiologista brasileiro Sidarta Ribeiro enfrenta estas questões em ‘O Oráculo da Noite’. Seu livro faz parte de uma crescente atenção editorial ao mundo do descanso noturno nestes tempos em que a pandemia acentuou a insônia e a distração tecnológica


Os sonhos são como estrelas, quando os observamos, vemos um mundo antigo. Além disso, são tão delicados que parecem não suportar o nosso olhar e o observador torna-se imediatamente observado. Mas o que é um sonho? Por que sonhamos? Para que sonhamos? As perguntas se multiplicam. Como extrair o significado simbólico dos sonhos? E, o que é ainda mais difícil, onde procurar esse sentido, na vigília ou no próprio sonho?
Para a filosofia dos upanixades [parte das escrituras Shruti hindus, que discutem principalmente meditação e filosofia], a vida é uma viagem pelos diversos estados de consciência. O sono, a vigília e o sono profundo. O primeiro nos inspira, na segunda situamos o significado, o terceiro nos apaga e apaga as coisas. Cada um tem suas regras e suas angústias. Existe um quarto estado, é o modo pelo qual a mente hindu concebe a realidade. Chama-se moksha: libertação. Para a mentalidade atual, a situação é bem diferente. Essa diferença se expressa nas línguas modernas, que opõem o sonho à realidade. “Isto não é um sonho, é real!”, dizemos quando algo nos surpreende (uma pandemia, uma cena surrealista, uma goleada). Mas os sonhos podem ser mais reais do que a própria realidade. Vemos isso nas doenças mentais, que compartilham com os sonhos as alucinações, os delírios e certa “flexibilização da lógica” (ou da identidade). Do ponto de vista qualitativo, as alucinações causadas pela ayahuasca, pela esquizofrenia ou pelos sonhos pouco diferem. As duas primeiras têm um grau maior de intensidade e vivacidade, são narrativas melhores (e mais dolorosas) que a última, se for o sonho anódino do burguês.
Cientistas nascidos em culturas com um passado indígena ainda vivo têm uma atitude mais aberta em relação às inovações retroprogressivas do que aqueles do mundo anglo-saxão (criados no voluntarismo, no puritanismo e devotados a um determinismo que deixa pouco espaço à inspiração). O neurocientista brasileiro Sidarta Ribeiro é um bom exemplo dessa mentalidade científica aberta e sem preconceitos. Em seu livro O Oráculo da Noite, convivem narrativas oníricas e essa outra narrativa que chamamos de neurociência. Um assunto fascinante e evanescente que explora os avanços de uma nova disciplina: a ciência onírica.
No século XVI, a cristandade considerava a revelação onírica uma fonte de blasfêmia e a Inquisição se ocupou de aplacá-la. A decadência do sonho como fonte legítima de conhecimento foi ratificada pelo racionalismo. Karl Popper argumentava que uma ciência do sonho era impossível porque o sonho era irrefutável e, para algo ser científico, tem de ser refutável. Temos um bom exemplo dessa atitude retrógrada em cientistas influentes como Daniel Dennett, que se recusa a aceitar a existência dos sonhos. Dennett considera o sono um fenômeno da vigília, uma rápida reelaboração feita pelo cérebro desperto. Mas as evidências científicas na última década colocaram em xeque essa opinião.
A arte da noite pode penetrar na arte do dia. Os sonhos são capazes de combinar com sucesso ideias científicas. “O ego subliminar sabe discernir e adivinhar, tem tato e delicadeza e é bem-sucedido onde o ego consciente fracassou”. Matemáticos como Poincaré (a quem pertence a citação) ou Ramanujan (que em sonhos recebia fórmulas matemáticas da deusa Laksmi), químicos como Mendeleiev, naturalistas como Wallace ou filósofos como Descartes experimentaram isso. Mas, fora essas exceções, o sonho passou a ser considerado um pálido reflexo do que acontece na vigília. Freud tentou reabilitar os sonhos como uma “via régia” para explorar as profundezas da mente, mas foi vilipendiado pela autoridade científica. A ideia de que os sintomas corporais pudessem resultar de meros pensamentos (e não de lesões cerebrais) não era aceitável para os neurologistas e muito menos a ideia de que os pensamentos pudessem mudar o cérebro.
Medo da mente
De acordo com a maioria das evidências, a esquizofrenia tem origem genética. Ou seja, está associada a experiências passadas que deixaram seu rastro na mente. Recordações que deveriam ter sido bloqueadas voltam quando não deveriam, o que aterroriza o paciente, que revive espectros do passado. A psiquiatria moderna se concentrou em bloquear essas recordações com inibidores de dopamina e serotonina. Para o mundo antigo, esses delírios eram sinais sagrados, presságios ou guias, experiências de contato com o mundo sutil que existe nos bastidores da existência. A civilização científica foi reduzindo esses diálogos a narrativas mais elementares, com o propósito de intervir nelas desde fora, para cortar a conversa. Ninguém o expressou melhor do que Foucault: “O conhecimento não é feito para compreender, é feito para resolver”. Os loucos ou os psicóticos, que antes queimavam nas fogueiras, hoje se trancam ou se entopem de inibidores de dopamina. Um sinal inequívoco do medo da própria mente. O trabalho que a Inquisição fazia agora é feito pelo Estado, que assume a tarefa de vigiar e punir essas pessoas em instituições pagas pelos cidadãos da ordem.
Ao contrário da neurologia, a psiquiatria lida com transtornos muito mais sutis que não são revelados no exame neurológico. A pesquisa moderna detectou duas grandes tendências nos delírios, a psicótica e a neurótica. Em ambos os casos está em jogo a consideração da identidade pessoal. O neurótico tende a sublimar o ego; o psicótico, a diluí-lo. Salvação do ego mesmo ou libertação do ego, um velho dilema já colocado pelo budismo. Nosso mundo é essencialmente neurótico, e o antigo e o indígena são psicóticos, embora não faltem interferências cruzadas entre ambos. Na medicina tradicional hindu, o esquizofrênico não é tirado de seu estado por baixo (com depressores), mas por cima, incentivando sua euforia. Os psicóticos levantaram o véu, enquanto os neuróticos vivem enterrados em um monte de cobertores. Ambos os extremos clamam por um equilíbrio. Os primeiros vivem em um sonho intenso; os segundos, em um anódino.
A tese de Ribeiro é que o sono poderia ser um episódio de psicose indispensável para a saúde mental. Estudos de neuroimagem mostram uma semelhança notável entre o sono REM e a psicose. As fantasias oníricas poderiam estar relacionadas aos delírios esquizofrênicos, e isso tinha grande potencial terapêutico: a “via régia” de Freud para acessar as profundezas da mente. Mas quando foram descobertos os antipsicóticos, drogas capazes de bloquear a dopamina no cérebro (muito úteis para os parentes dos doentes), essa linha de pesquisa perdeu o interesse. Como no caso da ficção e da realidade, os domínios da vigília e do sonho não parecem completamente separados. Estudos sugerem que a psicose pode ser resultado da intrusão do sonho na vigília. O interessante é que essas incursões geralmente ocorrem no campo da linguagem: “A maioria dos sintomas psicóticos são auditivos, vozes sarcásticas, acusadoras ou imperativas, às vezes incessantes, que soam dentro da cabeça”. Parece como se um antigo ego esgrimisse repreensões e reclamasse dívidas pendentes. A voz do pai de Lacan, embora essas vozes possam ser mais antigas. Julian Jaynes argumenta que os psicóticos de hoje representam a persistência, socialmente inaceitável, de uma mentalidade antiga. Seriam fósseis vivos de outra forma de consciência. De uma época em que ouvir vozes não era incomum. Daí o desejo do esquizofrênico de fugir para a floresta ou para as montanhas. Prefere o risco da natureza ao mal-estar na cultura.
Memória renovada
O sono REM participa da consolidação da memória, cuja eficácia depende do esquecimento. Os sonhos fazem esquecer o que não importa e dar relevância ao que é importante. A supressão das recordações indesejadas é um fato cerebral quantificável (desativação do hipocampo e da amígdala). Pesquisas recentes sugerem que as recordações não são confiáveis. Elas perdem as patas e ganham asas, acolhem com gosto novos detalhes e associações, passam pelo filtro da sedução, da censura ou do desejo. Sabemos que as recordações não se fixam depois de vividas, mas oferecem versões diferentes cada vez que são reativadas. Uma renovação que depende do mesmo processo (regulação gênica e produção de proteínas) que é ativado durante a aprendizagem. Cada vez que rememoramos algo, nós o reconstruímos. Consequentemente, as recordações carecem de lugar. A recordação é mais uma atividade do que um objeto. E como eles são ativados quando dormimos, os sonhos os consolidam.
“A alma humana, quando sonha, liberta do corpo, é ao mesmo tempo o teatro, os atores e o público.” À frase de Addison, Borges acrescenta que é também é o autor da peça representada. Mas trata-se de um autor desconhecido, que nem mesmo você reconhece. É por isso que existem tantos sonhos quanto gêneros literários (satíricos, alegóricos e proféticos, banais e mudos). Existem sonhos inventados pelo sono e sonhos inventados pela vigília. Pensar que os sonhos vêm de dentro (do interior do cérebro) é a opção moderna. A antiga foi pensar que carecem de lugar, que nos visitam e nos guiam nos bastidores (uma ideia antiga apresentada pelo budista Vasubandhu). Nas camadas mais profundas do inconsciente são armazenadas inúmeras imagens e experiências compartilhadas que podem vir à tona a qualquer momento. Um legado vivo que Jung acessava por meio de pacientes que sofriam de intensas alterações emocionais. Nelas são revelados arquétipos e imagens primordiais da psique, que gozam de energia própria e considerável autonomia. Imagens capazes de direcionar comportamentos e até assumir o controle da vontade.
Para as culturas antigas, o sonho não significa irrealidade, mas um estado particular de consciência do qual se pode extrair conhecimento. A vigília convive com o sonho, mas não tem mais realidade do que este. Para os ameríndios, os sufis ou os budistas, os sonhos são o limiar de outro plano de realidade. Um âmbito que existia antes de o sonhador nascer e que sobreviverá a ele. Todas essas tradições têm um longo histórico de conhecimentos de plantas e fungos. Está se tornando cada vez mais evidente que a criminalização puritana dessas substâncias deve acabar e que as substâncias psicodélicas podem ajudar a tratar doenças mentais. Sonhar melhora a saúde do corpo e a plasticidade neuronal. A molécula de DMT do chá de ayahuasca produz experiências visuais poderosas e é amplamente utilizada para fins terapêuticos no Brasil. Produz uma purga psíquica que inclui uma forte autocrítica e a revivência de atos do passado. Os psicodélicos serotonérgicos como o LSD e a psilocibina são os que melhor emulam o estado onírico. Esta última reduz a depressão e a ansiedade quando administrada em duas doses durante as sessões de psicoterapia. O MDMA, o princípio ativo do ecstasy, é comprovadamente uma solução eficaz para o transtorno de estresse pós-traumático. Quando não está contaminado por outras substâncias, produz no próprio cérebro uma intensa liberação de serotonina, desencadeando “estados de graça”, um amor intenso pelos outros e uma felicidade imensa de existir. Essas duas moléculas estão muito perto de serem aceitas pela psiquiatria tradicional.
A ciência moderna, até muito recentemente, negava a autoridade dos sonhos. A tendência agora é recuperar essa voz. Mas existe um risco. Quando as técnicas xamânicas são introduzidas no laboratório, corre-se o risco de perder suas referências simbólicas e rituais. Monges e xamãs não entendem a necessidade de provar o que para eles é evidente. As últimas pesquisas confirmaram o sonho lúcido que, segundo Ribeiro, ocorre de forma espontânea com todo mundo pelo menos uma vez na vida e cuja frequência diminui depois da adolescência. O tráfego entre os dois mundos está cada vez mais intenso. O assunto é fascinante. Olhar para dentro pode ser tão revelador quanto olhar para fora. Os sonhos ainda têm muito a nos dizer.
A ciência onírica em alguns livros
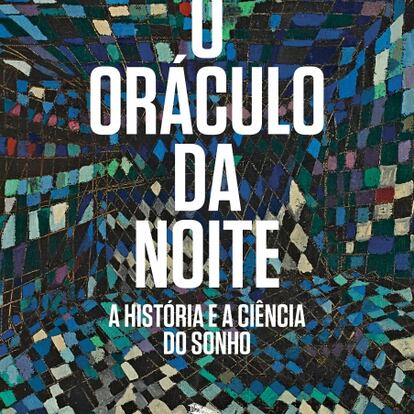
‘O Oráculo da Noite: A História e a Ciência do Sonho’. Sidarta Ribeiro. Companhia das Letras

"Por que nós dormimos". Matthew Walker
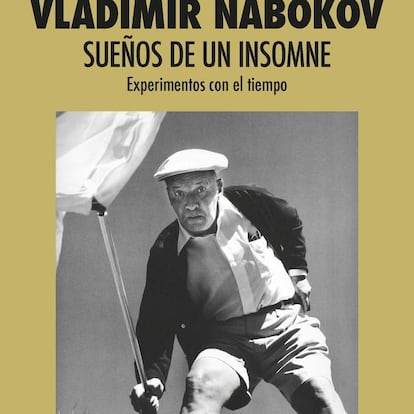
‘Sueños de un Insomne. Experimentos con el Tiempo’. Vladimir Nabokov
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo
¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?
Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.
FlechaTu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.
Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.
¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.
En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.
Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.








































