Os refúgios digitais do supremacismo branco
Durante a presidência de Trump, grupos de direita cresceram e se radicalizaram nos Estados Unidos, amparando-se em plataformas marginais, mas também explorando as redes tradicionais

Kevin Greeson adorava cachorros e motos, e se dizia preparado para a batalha. Com uma árvore de Natal ao fundo e uma caixa de munição aos seus pés, exibia orgulhoso um fuzil de assalto AR-15 em cada mão e duas pistolas na calça. “Queria que estes filhos da puta aparecessem no meu bairro”, escreveu em dezembro, quando publicou essa foto no Parler, uma rede social povoada de seguidores de Trump e extremistas de direita. “Recuperemos este maldito país! Carreguemos nossas armas e tomemos as ruas!”, dizia em outra publicação. Em 6 de janeiro, tudo se tornou real. Grupos de fanáticos trumpistas invadiram a sede do Capitólio em Washington, onde os legisladores se dispunham a ratificar o triunfo de Joe Biden nas últimas eleições presidenciais. O saldo foi de cinco mortos. Greeson, de 55 anos, foi um deles.
A família de Greeson, um agente comercial em Athens, Alabama, o descreve como um pai e marido amoroso. “Ele estava emocionado de estar lá”, disseram em um comunicado, acrescentando que “não estava lá para participar da violência”. Nas redes sociais, Greeson era seguidor de teorias conspiratórias sobre a pandemia, defendia militares e manifestava simpatia pelos Proud Boys, um grupo de supremacistas brancos que está sob escrutínio depois dos protestos violentos em Washington. O único traço que parecia unir aquele usuário do Parler com o homem descrito por sua família no mundo analógico era sua admiração por Trump.
O ataque ao Capitólio foi “um enfrentamento entre a sombria fantasia digital e a realidade”, escreveu o jornalista de tecnologia Farhad Manjoo. Não foi o primeiro incidente desse tipo durante o Governo Trump, mas nunca antes havia ficado tão evidente o alcance e o perigo do fenômeno de radicalização que o magnata e seus aliados alimentaram abertamente desde que lançou sua campanha à presidência em 2016 ―uma estratégia possibilitada pelas empresas tecnológicas, e que o republicano explorou de maneira sistemática.

Tampouco era um segredo inacessível. Três dias antes da revolta, no The Donald ―um fórum on-line de trumpistas convictos―, um usuário escreveu: “Depois de atacar o Capitólio, vou passar a tarde no Museu do Ar e do Espaço”. Na véspera, no 8kun ―um fórum virtual sem regras nem moderação de conteúdo, que seu criador descreveu como “o cu da Internet”―, um usuário publicou: “Vamos atacar edifícios governamentais, matar policiais, matar seguranças, matar funcionários”. Ao longo de dezembro, pessoas que planejavam viajar a Washington em 6 de janeiro compartilharam no Facebook um cartaz que dizia: Operação Ocupa Capitólio. Nos 30 dias anteriores à insurreição, segundo uma empresa de análise de mídia citada pelo The New York Times, a frase “storm the Capitol” (invada o Capitólio) foi utilizada cerca de 100.000 vezes na Internet.
“O grande paradoxo é que teoricamente vivemos hipervigiados, mas, claro, o que você procura se define pelo objetivo de quem procura. Estamos hipervigiados por empresas que querem otimizar o tempo de tela, não por empresas que querem encontrar terroristas”, diz a escritora e jornalista espanhola Marta Peirano, que investiga e escreve sobre tecnologia e poder.
Apoie a produção de notícias como esta. Assine o EL PAÍS por 30 dias por 1 US$
Clique aquiEm setembro do ano passado, a imprensa dos EUA revelou um relatório do Departamento de Segurança Doméstica informando que agressores solitários e pequenos grupos motivados por “fatores sociais, ideológicos e pessoais” representariam “a maior ameaça terrorista” para o país em 2021, sendo os supremacistas brancos “a ameaça mais letal”. Logo após o ataque ao Capitólio, um alto funcionário do FBI afirmou que os invasores não tinham “nenhum sinal iminente de violência”, mas logo foi desmentido: o The Washington Post revelou que, em 5 de janeiro, um escritório do FBI na Virgínia havia alertado, com base em informações obtidas na Internet, que extremistas se preparavam para viajar a Washington com intenções violentas e “de guerra”.
“O Congresso precisa escutar as vidraças quebrando, as portas sendo chutadas e o sangue de seus soldados escravos do Black Lives Matter e dos antifascistas sendo derramado”, dizia a publicação obtida pelos agentes. Dias depois, o FBI acabou reconhecendo que de fato tinha pistas sobre um possível ataque, mas nunca distribuiu um relatório formal a respeito para não violar “a liberdade de expressão” dos manifestantes.

As margens do terror
“Bem-vindo ao Gab, uma rede social que defende a liberdade de expressão, as liberdades individuais e o livre fluxo de informação on-line”, diz a página inicial dessa plataforma, que nos últimos dias virou o refúgio predileto dos usuários de direita expulsos ou autoexilados de outros sites. Desde que Amazon, Google e Apple decidiram deixar de oferecer o aplicativo Parler ―uma rede social popular entre conservadores e trumpistas― por incitar à violência, o Gab recebe em média 10.000 novos usuários por hora, segundo Andrew Torba, CEO e fundador do site.
Mas o Gab, criado em 2016, já tinha tido seu momento de estrelato durante o Governo Trump: em 27 de outubro de 2018, um sábado, Robert Bowers postou uma última mensagem antissemita no seu perfil dessa rede antes de entrar em uma sinagoga de Pittsburgh, abrir fogo e assassinar 11 pessoas. Ele costumava usar essa comunidade para publicar teorias conspiratórias nazistas, insultos racistas e imagens de suas armas e seus treinos de tiro. Quase um ano depois, outro site usado como refúgio por supremacistas brancos, neonazistas e extremistas de direita, o 8chan, voltou a aparecer no noticiário: em agosto de 2019, meia hora antes de abrir fogo e matar 20 pessoas em um shopping de El Paso, no Texas, Patrick Crusius publicou ali um manifesto supremacista onde culpava os migrantes latinos por “roubar trabalhos”.
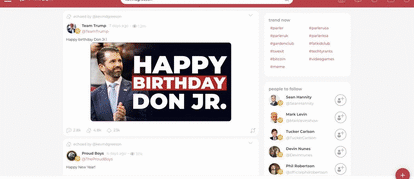
Depois do massacre de El Paso, o 8chan ―que no mesmo ano foi vinculado com outros dois atentados do supremacismo branco cometidos por usuários que disseram ter se radicalizado nessa rede― perdeu seu domínio e seu site, tendo que se reinventar sob o nome de 8kun.
“A parte aterradora desses sites é que é quase impossível saber quem fala a sério, porque todos dizem o mesmo: queremos uma guerra civil, falam em matar, nas armas que querem ou que possuem... É realmente muito, muito difícil saber quem vai pipocar”, diz a jornalista Talia Lavin, autora do livro Culture Warlords: My Journey into the Dark Web of White Supremacy (“senhores da guerra cultural: minha jornada pela sombria teia da supremacia branca”, inédito no Brasil). Durante a investigação para seu livro, Lavin assumiu diferentes personalidades falsas e se infiltrou em fóruns virtuais, grupos de chat e plataformas frequentadas por extremistas para compreender como os homens se radicalizam e quem são os neonazistas contemporâneos. Quando perguntada se era possível distinguir o alarde violento de uma ameaça real, Lavin fala de “terrorismo estocástico” (ou seja, resultante de fatores aleatórios): “A criação de um entorno onde há uma constante incitação à violência, onde se descreve de maneira constante os grupos que são foco do ódio e a violência que você gostaria de cometer, na esperança de que alguém tome a iniciativa”.
O conceito de “terrorismo estocástico” serve também para falar do perigo potencial da desinformação: o bombardeio de notícias falsas e teorias conspiratórias que podem incitar ou habilitar indivíduos aleatórios a cometerem atos violentos. Assim é como, por exemplo, uma mãe de 50 anos termina dizendo publicamente no Facebook que é preciso bombardear o movimento Black Lives Matter e enforcar os antifascistas, segundo Lavin. “O algoritmo premia o conteúdo que produz muitas interações [engagement], e as mensagens de ódio ou as teorias conspiratórias sempre obtêm muitas reações porque atraem as pessoas, e então as arrasta a ver mais, e veem cada vez mais e mais.”
Para Andrew Marantz, jornalista da revista The New Yorker e autor do livro Antisocial: Online Extremists, Techno-Utopians, and the Hijacking of the American Conversation (“antissociais: extremistas on-line, tecno-utópicos e o sequestro do diálogo americano”, lançado no ano passado nos EUA e inédito no Brasil), “é verdade que as piores partes da Internet, per capita, são as mais extremas (os chans, o Gab, certas partes do Reddit). Mas per capita não é a única forma de medir: o alcance absoluto também importa, e talvez seja o mais importante. Nesse sentido, é possível que o maior dano tenha sido, e ainda seja, no Facebook”.

Vilões conhecidos
Segundo uma pesquisa publicada pelo Pew Research Center no ano passado, um em cada três norte-americanos afirma que o Facebook é sua principal fonte de notícias. O dado é bastante preocupante em si mesmo, mas além disso se trata de uma porta de entrada para as drogas pesadas da desinformação. “Na verdade, a maior parte do movimento acontece nos grupos secretos do Facebook”, diz Marta Peirano, autora do livro El Enemigo Conoce el Sistema. Trata-se, explica ela, de grupos que não saem nos buscadores e não aparecem nos recomendados, e onde se espalha uma desinformação da qual ninguém fica sabendo, porque teoricamente estão todos protegidos e invisíveis.
Segundo Peirano, depois de 2016, quando os EUA se puseram a investigar a interferência russa nas suas eleições presidenciais, “ficou demonstrado que os russos tinham enchido o Facebook de campanhas e páginas falsas e de desinformação, e lá ficaram à vontade para solapar o processo democrático”. Assim, Mark Zuckerberg anunciou que para evitar esse tipo de coisas a rede “favoreceria os grupos privados, que são exatamente onde as pessoas se radicalizam”, segundo a autora. “Com isso o Facebook de repente tirou esse tipo de atividade do espaço público, ou seja, do espaço que se podia monitorar, e a trancou em grupos privados.”
“Se você empurrar os discursos radicais para as sombras, permitirá que eles se aprofundem”, concorda Marantz, embora ache que retirá-los da vitrine “também reduz seu alcance e dificulta que os extremistas recrutem novos membros”.
Em sua exploração pelos refúgios do supremacismo branco, Lavin se deparou com neonazistas radicalizados, preocupados com a possibilidade de que agentes federais os lessem, mas diz que esse não é o caso dos trumpistas: “Eles nunca enfrentaram uma consequência em suas vidas. Veem a si mesmos como parte de um movimento convencional, como algo perfeitamente aceitável”, observa.
Para mostrar como essa convicção estava arraigada entre os invasores do Capitólio, o colunista Farhad Manjoo descreve um clipe da revolta que viralizou, no qual uma mulher que se apresenta como “Elizabeth, de Knoxville”, se queixa com um repórter de ter sido barrada assim que tentou entrar no edifício, da qual acabou sendo expulsa à base de gás pimenta. O jornalista lhe pergunta então por que queria entrar no prédio, e ela responde indignada: “Estamos atacando o Capitólio! É uma revolução!”.

O episódio recorda um pouco Christopher Cantwell, também conhecido como o nazista chorão, um dos rostos mais emblemáticos da passeata de nacionalistas brancos ocorrida em agosto de 2017 em Charlottesville, na Virgínia. Cantwell é o personagem principal de um pequeno grande documentário que a Vice News fez sobre aquela manifestação, na qual ele aparece se definindo com orgulho como alguém mais racista do que Donald Trump e afirma estar preparado para a violência: “Eu porto uma arma, passo o tempo todo na academia, me preparo para ser mais apto para a violência”, proclamava. Dias depois dos confrontos em Charlottesville, que deixaram um morto, Cantwell aparece chorando em um vídeo caseiro ao ficar sabendo que é alvo de um mandado de prisão. Diz ter medo de ser morto por policiais e, apesar de admitir que falou “um monte de merda na Internet”, jura que ele e seus colegas sempre fizeram “todo o possível para manter isto de forma pacífica”.
Charlottesville foi uma das muitas advertências do que estava ocorrendo com a legitimação do supremacismo branco sob o mandato de Trump, “mas em nenhum dos casos anteriores estavam todos os representantes democráticos do Governo dos Estados Unidos à mercê de 2.000 loucos que tinham entrado no Capitólio à força”, resume Peirano. “Na verdade, foi uma sorte e um aviso. Podia ter sido muitíssimo mais grave. Essa gente está muito furiosa, muito confusa e muito desesperada, mas gente perigosa não entra no Capitólio e tira uma foto no gabinete de Nancy Pelosi. Gente perigosa de verdade protege sua identidade.”