Como viver com a culpa de ter criado um filho assassino
Susan Klebold, mãe do autor da matança de Columbine, conta como vive com a culpa

O pior que pode acontecer a um pai e uma mãe é perder um filho. Susan Klebold passou por isso: seu caçula, Dylan, morreu com 18 anos recém-completos. Com uma particularidade: ele mesmo se matou, minutos após tirar a vida de outras 13 pessoas. Em 20 de abril de 1999, Dylan Klebold e seu amigo Eric Harris atiraram contra seus colegas do Colégio Columbine, no Colorado (EUA), matando 12 estudantes e um professor. Muitos outros ficaram feridos. As imagens da matança – a mais terrível cometida até então em uma escola nos Estados Unidos – deram a volta ao mundo; o filho mais novo de Susan Klebold foi um dos assassinos do tristemente famoso “massacre de Columbine”.
Éramos pais carinhosos, atentos e comprometidos, e Dylan era uma criança entusiasmada e afetuosa. O dia a dia de nossas vidas antes de Columbine talvez seja o mais difícil de entender de minha história. Para mim, é também o mais importante", escreve Susan Klebold
Passados 17 anos depois, Susan Klebold publica um livro chamado A mother’s reckoning: Living in the aftermath of tragedy (Balanço de uma mãe: vivendo as sequelas de uma tragédia), no qual responde às perguntas que pelo menos uma vez passaram pela cabeça de todos os pais e mães que conhecem os fatos. Como se vive com esse acontecimento marcado na memória; com a culpa por um crime que não cometeu; com a repulsa dos outros por seu parentesco com um criminoso? E, talvez ainda mais cruel: como não percebeu antes do que seu filho era capaz de fazer, do ódio que fermentava em seu interior? Até que ponto é possível sentir-se responsável, ao viver por 18 anos com um potencial assassino em série? Não corrói o pensamento de que, de alguma forma, ela como mãe poderia ter evitado?
Mães (comuns) de filhos assassinos
A ideia que está por trás da história da senhora Klebold é que seu drama poderia ter acontecido com qualquer um. Era uma mãe normal: não um desses pais e mães disfuncionais que vivem em um trailer em um bairro periférico. Educados e de classe média, ela e seu marido, Tom Klebold, eram pacifistas: contrários ao uso de armas por particulares. Tinham convicções religiosas – luteranos praticantes – e o trabalho de Susan era conceder bolsas de informática a descapacitados (seu marido, de quem se divorciou em 2014, é geofísico). Colocaram o nome de Dylan em seu filho caçula em homenagem ao poeta Dylan Thomas. O mais velho se chama Byron.

Em seu livro, cujos direitos autorais serão doados integralmente a organizações dedicadas ao cuidado de doenças mentais, Susan começa mostrando sua dor: “Daria minha vida para consertar o que aconteceu nesse dia. De fato, a daria sem pensar em troca de qualquer outra das vidas perdidas”, escreve. E na sequência começa a descrever sua família. “Tom e eu éramos pais carinhosos, atentos e comprometidos, e Dylan era um garoto entusiasmado e afetuoso”. E acrescenta: “O dia-a-dia de nossas vidas antes de Columbine talvez seja o mais difícil de entender de minha história. Para mim, é também o mais importante”.
Ela enfatizou a noção de que um criminoso adolescente pode surgir até mesmo nas melhores famílias pouco depois nas poucas entrevistas que concedeu. “Uma das coisas aterrorizantes sobre essa realidade é que as pessoas que têm parentes que fazem coisas como essa são como nós”, declarou a senhora Klebold ao The Guardian. “Conheci várias mães de assassinos em série, e elas são tão doces e agradáveis como quaisquer outras. Ninguém seria capaz de dizer, se nos vissem juntas em um aposento, o que temos em comum”.
Conhecemos (de verdade) nossos filhos?
Mães amorosas que, entretanto, não perceberam que tinham um monstro em casa. E Dylan dava mostras. De garoto tranquilo e feliz, o menino se transformou em um problemático adolescente. Em seu terceiro ano de colégio, ele e seu amigo Eric foram detidos por roubar materiais eletrônicos com uma caminhonete. Pouco depois, Dylan foi multado e suspenso temporariamente por riscar a porta de um armário do vestiário. Nem mesmo quando pediu aos seus pais uma escopeta de Natal – um ano antes do crime – ela ligou os pontos. “Surpresa, perguntei a ele porque a queria, e me disse que pensava que ir de vez em quando a um campo de tiro poderia ser divertido”, diz no livro. “Dylan sabia que sou inimiga acérrima das armas, de modo que a proposta me deixou estupefata (...) E como jamais teria permitido uma arma sob nosso teto, seu pedido não me despertou nenhum alarme”. Como sua mãe se negou a comprar a escopeta, ele por sua conta e escondido amealhou, com seu amigo, um arsenal.
conheci a várias mães de assassinos em série, e elas são tão doces e agradáveis como quaisquer outras. Ninguém poderia dizer, se nos visse juntas em um aposento, o que temos em comum
Após a matança apareceram vídeos nos quais Dylan e Eric, nas vésperas de seu mortífero ataque, exibiam seu arsenal e se gabavam dele. Alguns foram filmados no porão da casa de Dylan, o que fez com que os jornais os chamassem de The Basement Tapes (as fitas do porão), como as gravações de outro Dylan, o músico Bob. “Não tínhamos a menor ideia de que esses vídeos existiam”, escreve Susan. “Meu coração quase se partiu quando vi Dylan e escutei sua voz: se parecia e soava da mesma forma como me lembrava dele, o garoto de quem tanto sentia falta (...) [Mas] nunca havia visto essa expressão zombeteira de superioridade em seu rosto. Fiquei boquiaberta com a linguagem que usavam: abominável, cheia de ódio, racista, com palavras depreciativas que nunca havia escutado em minha casa”.
As fitas do porão causaram ainda mais impacto nessa mãe do que o atentado cometido por seu filho. Ela explicou ao The Guardian: “Penso que Dylan foi vítima de alguma espécie de disfunção de seu cérebro. O Dylan que conheci e criei era uma pessoa amável, atenciosa, por isso me é tão difícil de entender. Peço desculpas se ofendo alguém, mas não odeio meu filho, nem o julgo, porque é meu filho e, além disso, o que quer que o tenha feito matar os outros, também o matou”.

Essa ignorância na qual vivia foi o que transformou Susan Klebold no alvo do ódio de vítimas sobreviventes, parentes e certa parte da opinião pública. Para muitos ela é culpada de omissão. Reação que ela entende. “Nunca deixei de pensar em como me sentiria se estivesse do outro lado e um de seus filhos tivesse atirado no meu”, admitiu à rede ABC News. “Estou completamente certa de que me sentiria exatamente como eles”.
Vida após a morte
Sua vida, como é natural, mudou por completo. Destroçada, Susan pensou em mudar de cidade, mudar seu sobrenome (retomando o de solteira) e começar do zero. “Muitas vezes”, admitiu em uma entrevista à edição norte-americana da Marie Claire. “Ainda poderia fazê-lo, mas deveria ter uma boa razão. Eu me dei conta de que realmente não posso escapar disso. Posso mudar de nome, de cidade, mas ainda teria de viver com o fato de que meu filho matou outras pessoas”.
O Dylan que conheci e criei era uma pessoa amável, atenciosa, por isso me é tão difícil de entender. Peço desculpas se ofendo alguém, mas não odeio meu filho, nem o julgo, porque é meu filho e, além disso, o que quer que o tenha feito matar os outros também o matou
Como costuma acontecer com os golpes mais duros, deixam os casais mais fortes ou os destroem. “A única pessoa no mundo que poderia ter compreendido pelo que eu estava passando era Tom, meu marido, mas a rachadura que se abriu entre nós nos primeiros dias após a tragédia foi aumentando”, diz no livro. Depois de 43 anos juntos, os Klebold se divorciaram em 2014. Os vultosos gastos com advogados também não ajudaram. “A primeira conta que recebemos foi uma comoção. Não tínhamos ideia de como a pagaríamos (...) Minha mãe pagava um seguro de vida para seus netos, meus filhos, desde crianças, e toda essa quantia serviu para pagar a primeira conta. Mas foi só uma gota em um balde, anos de contas nos esperavam”, relata. O seguro se encarregou das indenizações às vítimas, no valor de 1,3 milhões de euros (5,42 milhões de reais).
Sua maneira de pensar também mudou. Agora ela se coloca na pele das mães dos criminosos (“Quando escuto sobre terroristas nas notícias penso: ‘Ele é filho de alguém”, afirma) e transformou sua vida em uma cruzada não contra as armas, mas contra o suicídio: “Acredito que um assassinato-suicídio é uma manifestação de suicídio e, se nos centrarmos nesse, penso que poderemos evitar acontecimentos como o de Columbine”, declarou.
Diante do eco midiático
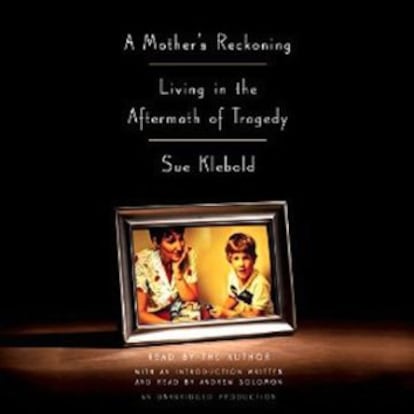
O atentado de Dylan e Eric teve um enorme eco social e cultural. Michael Moore realizou um documentário sobre os fatos (Tiros em Columbine, 2002) e Gus Van Sant rodou um filme (Elefante, 2004). Em 2000, Marilyn Manson lançou o álbum Holy Wood (In the Shadow of the Valley of Death) como reflexão após a tragédia (à época foi dito que as músicas do roqueiro poderiam ter instigado os dois rapazes a realizarem seu plano, e Manson chegou a escrever um artigo se defendendo na Rolling Stone). Uma repercussão que Susan não suportou bem. “Para mim, Dylan me pertencia. E quando vejo filmes, obras de teatro e escuto canções dedicadas ao que aconteceu tenho a sensação de que alguém o está tirando de mim, que está exigindo a posse de algo sobre o qual não sabe absolutamente nada”, disse ao The Guardian.
O que não mudou nesses 17 anos foi sua alergia em usar o verbo “matar” em relação ao que fez seu filho. “Não passo um dia sem pensar nas pessoas às quais Dylan machucou. Para mim é mais fácil dizer ‘machucar’ do que ‘matar’, mesmo depois de tanto tempo”, disse à ABC News. “É muito duro viver com o fato de que alguém a quem amei e criei matou pessoas brutalmente desse modo horrível”.
Posso mudar de nome, de cidade, mas ainda teria que viver com o fato de que meu filho matou outras pessoas
Seu livro, que aparece pontilhado de pungentes comentários de seu diário pessoal, termina com uma descrição de sua agonia: “Gostaria de ter descoberto o plano de Dylan”, afirma. “Gostaria de tê-lo detido. Gostaria de ter a oportunidade de trocar de lugar com aqueles que perderam sua vida. Mas à margem de um milhão de desejos apaixonados, sei que não posso voltar atrás”. E tira uma moral: “Devemos centrar nossa atenção em pesquisar e conscientizar sobre essas doenças [mentais], não só para o benefício dos que sofrem com elas, mas também dos inocentes que continuarão sendo suas vítimas se não o fizermos”.
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo
¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?
Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.
FlechaTu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.
Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.
¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.
En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.
Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.








































