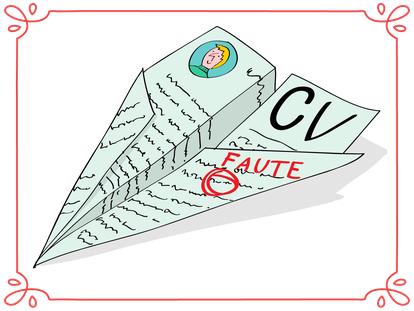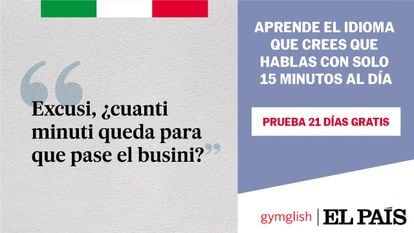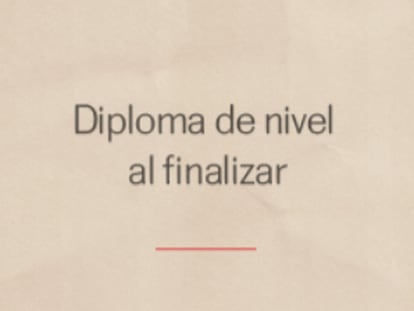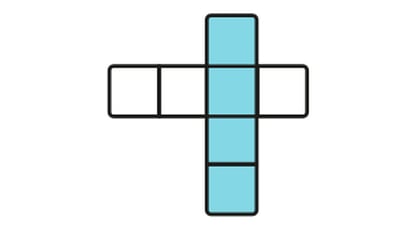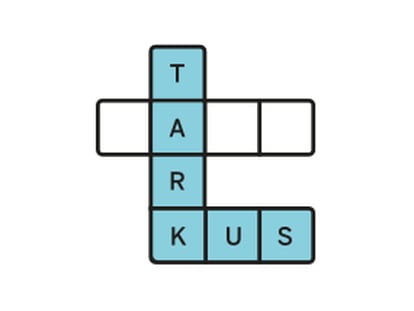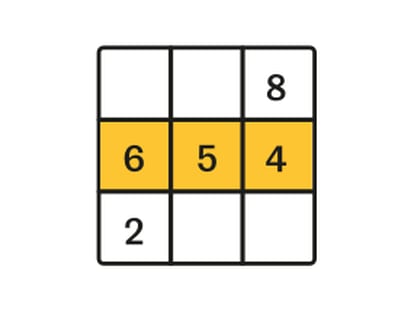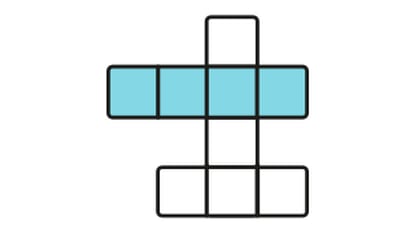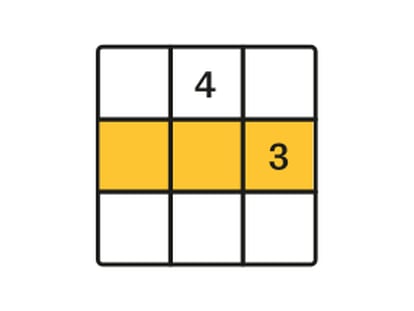‘História de um casamento’ ou a síndrome das mães ‘Virgem Maria’
O monólogo de Laura Dern no filme de Noah Baumbach expõe o mito e o fosso simbólico que pesa sobre as mães quando são avaliadas aos olhos dos outros e, ao mesmo tempo, a aceitação da figura do ‘pai ausente’

O herdeiro do monólogo sobre a cool girl de Gyllian Flynn já está aqui, pode ser apreciado em História de um Casamento na boca de Laura Dern e trata das expectativas sociais e a pressão exercida sobre as mães, construídas socialmente como uma espécie de virgens e seres sem mácula. No filme de Noah Baumbach, que transita pelos caminhos sinceros e dolorosos de um divórcio em que se disputa a custódia legal de uma criança, uma cena em particular está cotada para fazer história, por mostrar os julgamentos morais que pesam sobre as mães quando avaliadas pelos olhos dos outros. Um discurso que não chega a um minuto e meio, mas conseguiu roubar (um pouco) de protagonismo em meio à avalanche de louvores e elogios às interpretações de Adam Driver e Scarlett Johansson. Enquanto a personagem de Nicole (Johansson) prepara seu depoimento com sua advogada, Nora Fanshaw (Dern), esta chama sua atenção quando ela pretende declarar no tribunal que costuma beber de vez em quando uma taça de vinho e que um de seus "pontos fracos” pode ser insultar (com diminutivo carinhoso) o seu filho quando ele passa dos limites:
“Vou te interromper aqui. As pessoas não toleram mães que bebem e dizem ao filho: ‘idiota’. Eu entendo, também faço isso. Nós podemos aceitar um pai imperfeito. O conceito de um bom pai só foi inventado há uns 30 anos. Antes era normal que os pais fossem calados, ausentes, pouco confiáveis e egoístas. É claro que queremos que eles não sejam assim, mas no fundo nós os aceitamos. Gostamos deles por suas imperfeições, mas as pessoas não toleram essas mesmas coisas nas mães. É inaceitável em nível estrutural e espiritual. Porque a base de nossa conversa judaico-cristã é Maria, a mãe de Jesus, que é perfeita. Ela é uma virgem que dá à luz, apoia incondicionalmente o filho e segura seu cadáver quando ele morre. O pai não aparece. Nem apareceu para a trepada. Deus está no céu. Deus é o pai e Deus não apareceu. Você tem que ser perfeita, mas Charlie pode ser um puto desastre. Você sempre será colocada no nível mais alto. Você é uma fodida, mas é assim que é.”
laura dern: "when you hand me my oscar, can you introduce me as the medusa of monterey?" pic.twitter.com/Ex64c5fJlT
— david (@Ioversdiscourse) December 6, 2019
Não é a primeira vez que se teoriza sobre esse paralelismo simbólico, escrito nesta ocasião pelo próprio Baumbach, para apontar “aquela conversa judaico-cristã" que levou à segregação imposta de bondade, ternura e perfeição que pesa sobre as mães na cultura ocidental, enquanto a figura paterna, como lembra Dern no monólogo, “pode ser um puta desastre”. A invenção do mito da “mãe virgem” é um clássico que se reproduz repetidamente em culturas isoladas, como recorda Katixa Agirre no recente Las Madres No (Transit, 2019), onde destaca outras referências históricas sobre este arquétipo.
A autora lembra que na mitologia grega já se estabelece uma moral similar sobre a história da virgem Atenea, deusa da sabedoria e da guerra, que engravida depois que Hefesto ejacula em suas roupas e ela, com nojo, joga os restos de sêmen no chão, de onde nasce Erictonio. Maia, mãe do Buda, também concebeu o filho castamente em um sonho. Coatlicue, deusa asteca, ficou grávida enquanto varria e penas caíram do céu para que gerasse, sem pecado, um deus mexica, Huitzilopotchi. Na tradição persa, Anahita também gestou um deus, Mithras, sendo virgem. "Por que essa obsessão recorrente pela gravidez virginal? De onde vem essa dissociação histérica, antibiológica, antiempírica e misógina, afinal de contas”, se pergunta Agirre nas páginas, e responde: “Se alguém é mãe, o sexo não pode interferir em sua vida. Se uma mulher cai nas garras do sexo, ela não é mais mãe, é puta. Se é uma prostituta, ela não gera a vida; muito pelo contrário, provavelmente é perigosa [...]. Ou, dito de uma maneira mais simples, todas putas, menos minha mãe”, sentencia.
O pai ausente sempre ganha: da ‘mãe virgem’ à ‘mãe total’
“O sexo é a única fronteira aberta às mulheres que sempre viveram dentro dos confins da mística da feminilidade”, escreveu em 1963 uma Betty Friedan um tanto quanto estupefata diante da ânsia de aventuras sexuais sem romantismo que se espalhava entre as donas de casa entediadas dos bairros residenciais norte-americanos. Casadas que fantasiavam em abandonar sua família para se entregar ao frenesi de aventuras sexuais em países exóticos. Mulheres que se tornaram assexualizadas em sua transformação em ‘esposas de’ e cuja ruptura com seu estado de ‘mãe virgem’ passava por retomar o prazer dos sentidos em esferas alheias ao doméstico. O lar como cenário em que o prazer se desnaturalizava e era enviado a outra órbita porque as prioridades passavam por estar plenamente envolvidas na criação, um processo que passava por anular sua própria identidade sexual.
Meio século depois e com duas revoluções feministas sobre os ombros nas quais se reivindicou o autoconhecimento do prazer feminino como símbolo identitário, as mães continuam trazendo consigo a síndrome da Virgem Maria. Em Sra. Fletcher, o romance de Tom Perrota, essa síndrome é experimentada por sua protagonista, Eve, uma divorciada de meia idade que criou seu filho único com um pai ausente (mas plenamente admirado pelo jovem) e que só volta a ser sexualmente ativa quando ele abandona o ninho e entra na universidade. No momento em que seu filho sai pela porta, Eve começa a se masturbar sem descanso e com alegria com pornô online, uma diversão em que quase nunca havia pensado “exceto com inquietação maternal”, como simboliza o autor nas páginas.
“Para os filhos, para os homens ausentes e para nós mesmas, somos somente mães”, escreveu em 1976 Jane Lazarre em The Mother Knot (O Nó Materno), um texto que lhe serviu para se transformar em uma das pioneiras a verbalizar as contradições de identidade feminina no processo de maternidade. Lazarre destruiu as barreiras sobre debates nesse âmbito que terminaram nas “mães arrependidas” Orna Dornath e na crítica das ‘sem filhos’ que, como Lina Meruane em Contra os Filhos, repudiam o retorno ao essencialismo das “mães totais que agora se abrigam na “retórica do meio ambiente” para voltar a enfatizar essa dedicação total na criação sem corresponsabilidade paterna. Mães “mais apegadas aos seus filhos” que, segundo Meruane, propugnam uma neomística feminina em que o pai ausente volta a ser validado e normalizado: “Essas mães de aparência progressista deram a volta completa no círculo para retornar à retrógrada equação mulher=natureza que exime os homens”, defende a chilena. Da ‘mãe virgem’ à ‘mãe total’. Diferentes epítetos que reforçam tudo o que o monólogo de História de um Casamento resume em somente um minuto e meio: que a “perfeição” de uma mãe em relação a um pai que “sequer aparece”, esse perpétuo “sarrafo mais alto”, é uma trama viciante da qual parece que não queremos nos cansar.