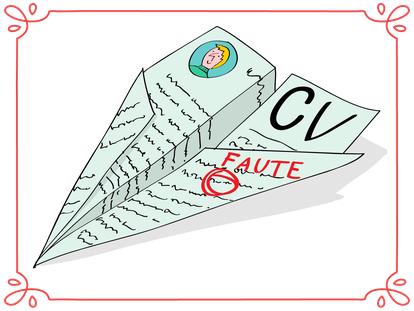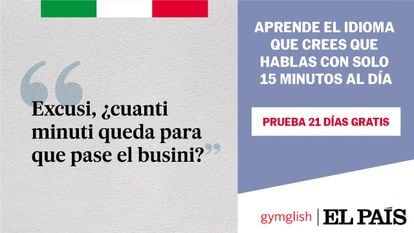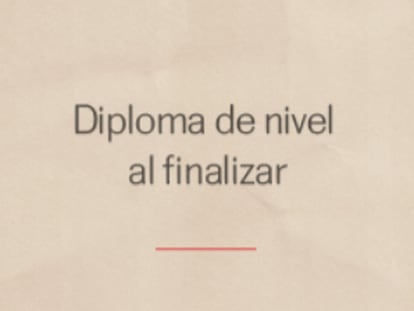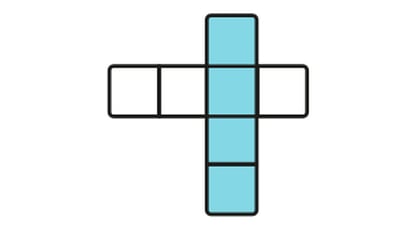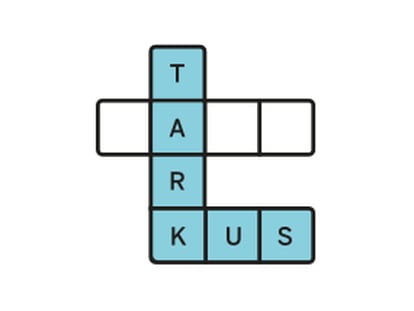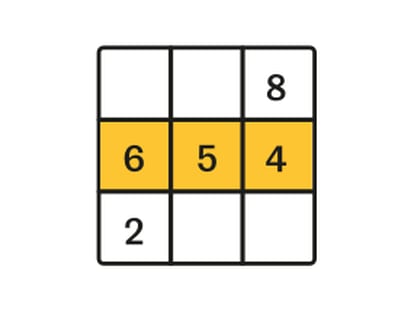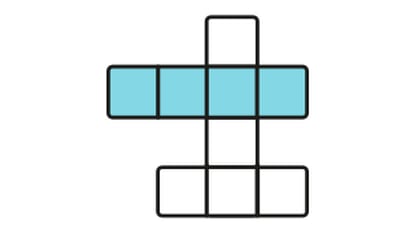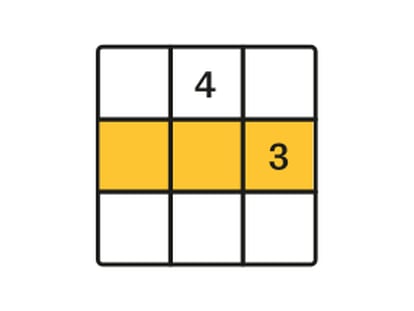Djonga: “Uma hora você quer pegar no revólver, outra hora quer ler um livro, até entender seu caminho”
O rapper mineiro, de 25 anos, mostra maturidade ao refletir sobre os obstáculos até 'Histórias da minha área, seu quarto álbum de estúdio

A foto de capa de Histórias da minha área, quarto álbum de estúdio do rapper mineiro Djonga, configura uma espécie de linha tênue onde o artista se equilibrou durante parte da sua vida. Ao mesmo tempo em que aparece sentado e sorrindo, seu corpo também está crivado de balas e deitado no chão. Mas não só ele. Todos os integrantes que compõe a imagem são frutos dessa dubiedade.
A trajetória de Djonga, construída na zona leste de Belo Horizonte, precisava ser reverenciada de alguma maneira. “Você só vai ser o maior do Brasil depois que for o maior da sua rua”, decreta em uma das dez faixas que compõe o novo trabalho. Ao relembrar o lugar de onde veio, mantém o discurso ácido presente desde Heresia, seu primeiro disco, ainda que a melancolia da perda e o desespero da ausência estejam igualmente presentes. “Eu tava lá, eu vi acontecer/Tô cheio de ódio e com saudade de você” reflete em Não Sei Rezar.
Djonga desvela as camadas do novo disco, lançado na sexta-feira,13, utilizando o que aprendeu na rua e também no curso de história na Universidade Federal de Ouro Preto, onde estudou até o último semestre. Aos 25 anos, o rapper exibe maturidade. Além do já citado Heresia, compõe sua discografia O menino que queria ser Deus (2018) e Ladrão (2019). “Disco de platina na minha sala/ e ainda assim não me sinto completo / Corro atrás do que ainda não tem nome/ Juro que não tenho tesão por nenhum objeto” (Otro patamá). O tesão, neste caso, é utilizar a arte para causar desconforto e movimentar as estruturas.
Pergunta. Seu último álbum, Ladrão (2019), fala sobre conquistar o que é de direito, resgatar algo que foi roubado. Qual foi o resultado dessa colheita?
Resposta. Foi tudo em escala. Heresia (2017) trabalhei muito. O Menino que queria ser Deus (2019) foi o dobro e no Ladrão foi o triplo. Cheguei a fazer 22 shows em um mês. No quesito profissional, na parte mais prática, foi uma colheita gigante, intensa e surpreendente. Emocionalmente, foi uma parada que me mostrou como preciso ter responsabilidade no meu trampo. Quanto mais aumenta número de shows, visualizações, aumenta também as pessoas que dependem de mim, como artista e como pessoa. Deu para dividir bastante entre os nossos. Hoje consigo ajudar mais gente do ajudava antigamente, e não é algo pautado naquela culpa cristã. É uma divisão importante para que a roda continue girando. Deu para ganhar mais, aprender, viajar e continuar provocando o sistema. Ladrão é um álbum voltado para a minha família, uma relação de ancestralidade. Faltava falar da minha área, das coisas que aprendi na rua, dos meus amigos, e de como isso me trouxe até aqui.
P. Logo no começo de Cara de óculos, o verso diz que “a inspiração era os maluco de 125 na porta da minha escola”. Isso segue em você, mas o que mais se somou como inspiração?
R. Vixi... muita coisa. Desde os moleques de 125 [cilindradas da moto], até aqueles que estudaram e se tornaram advogados. Ver que minha mãe, que é uma preta foda, funcionária pública, está de boa, assim como meu pai. Eles são meus exemplos, assim como os meninos que cresceram comigo jogando bola, as meninas da área. Tudo o que vi acontecendo ao meu redor serviu de inspiração, até mesmo aqueles que morreram, que foram presos. Eu olhava e pensava “não é isso que eu quero para mim”. E teve muito artista foda, porque a quebrada está cheia de gente boa, principalmente ligada ao samba e ao funk, mas também à música erudita. Mas malucos de 125’ é a melhor definição, porque era o que eu desejava ser também quando comecei a entender o mundo. Eu via que uns tinham mais, outros tinham menos, e queria vestir as roupas bacanas, andar que nem os boy, comer bem. Daí que uma hora você quer pegar no revólver, outra hora quer ler um livro, até entender qual o seu caminho.
P. Em Otro patamá, um trecho fala sobre autoestima: “seja protagonista da sua história, pega a folha e muda o roteiro”. Sempre foi assim ou começou na música?
R. É louco, vou te dar um exemplo. Nunca achei feio ser preto, nunca. Mas me achava feio porque eu sabia que as pessoas me achavam feio, entende? O padrão dizia que eu era feio. Compreender que você não precisa se envergonhar de quem é, do seu estilo, do seu cabelo, do lugar de onde veio, é um processo. A música me ajudou nisso. E quando falo das pessoas, você sabe de quem estou falando, né?
P. Inclusive em Hoje não a letra fala “vai no histórico do Mac ver quem seu filho ama, pensou que o herói dele ia ser alguém de farda”. Como é fazer crítica para essas pessoas que te idolatram?
R. A arte tem que trazer desconforto mesmo. Ouvi muitos desses caras a minha vida inteira, fui provocado. Por que agora eles não podem me ouvir? Se a gente está pautando mudança de sociedade, precisamos que os vilões ouçam aquilo que temos a dizer, ainda que alguns deles tenham sido forjados em um processo social sinistro. Agora, os que são esclarecidos, que sabem como tramar o nosso fim, aí é guerra. É o game. Não posso ser artista se não tiver fã de tudo quanto é jeito. Se não for assim, nunca serei grande, vou ficar em um nicho. E meu objetivo não é esse. Quero chegar no ouvido de todo mundo. Há uma questão de mercado maior que eu. Do mesmo jeito que as pessoas compram iPhone, tênis da Nike, elas compram ingresso para o meu show. Se eu embaratecer meu show, o contratante vai deixar o ingresso caro, porque ele sabe que lota, e aí só ele vai ganhar dinheiro. Minha forma de resolver isso é fazer show de graça, principalmente em BH. Fora isso, é mercado. O contratante nunca vai perder. Não sou eu que vou, certo? Não sou trouxa, não vou fortalecer playboy jamais.
P. “É fácil ter casa na zona sul, o difícil é não fazer o jogo do inimigo”. Que jogo é esse?
R. O jogo é gigante. Tipo assim: virei ator da Globo, e agora? Só vou frequentar esse tipo de ambiente? Não trago nada de informação para a quebrada? Vou abandonar quem me ajudou desde sempre? Porém, é impossível não fazer o jogo de alguma forma. A questão é: ou você faz para ganhar ou para perder. Eles inventaram as regras, não fui eu. Só tem duas opções: ou não jogo em hipótese alguma, e se isso acontecer não sustento minha família e o tanto de gente preta que vai ser tão importante quanto eu para a cultura brasileira. Ou, jogo para ganhar.
P. Se manter em BH é uma forma de jogar à sua maneira?
R. Isso é um lance que envolve a minha filosofia de vida. De alguma forma, estar aqui faz parte de mim, embora essa decisão seja muito natural. Agora estou aqui na praça com os meus amigos da mesma maneira como faço desde os nove anos de idade, comendo um churrasco, jogando bola, tomando cerveja. Minha vida é essa. Não é forçar a barra: “estou em BH para provar isso ou aquilo...”. Só quero estar feliz. Desejo criar meus filhos nessa região, do jeito que foi comigo.
P. À Folha de S. Paulo, você comentou que grana já ganhou e que agora é pela arte. Isso te dá mais liberdade?
R. Sempre tive a visão de que a grana é consequência. Se nós fizéssemos por causa de dinheiro, tínhamos parado antes. Passamos muito perrengue, tirando dinheiro do próprio bolso, então, a gente quer dinheiro, mas não é só isso. A preocupação é cada vez mais estética. Não acho que isso dá mais ou menos liberdade, porque, mesmo sem dinheiro, quando precisava muito, nunca deixei de ter autonomia. Uma coisa não elimina a outra. Sempre fiz pela arte, isso é obrigatório. Eu amo essa porra. No começo de tudo falava para os meninos que ia entregar meu disco de graça na rua. Eles que me incentivaram a vender por cinco reais, algo que me ajudou muito. Achava que não era pelo dinheiro, era só para as pessoas ouvirem e mudar a vida delas. Depois entendi que se eu não ganhasse dinheiro, alguém ia ganhar.
P. Ainda sobre o cenário do rap, você já definiu o estilo como sendo pop. A opinião se mantém?
R. O hip hop é o estilo mais ouvido no mundo. No Brasil, não há outro gênero que esteja falando coisas mais interessantes que o rap. Apesar de alguns poréns, é a música que deixa a canção viva, que faz com que a gente converse sobre passado, presente e futuro, e que promova um debate com o nosso tempo. É pop, sim, por todo conceito que o Andy Warhol descreve do que é pop art. Quando Anitta e Ludmilla, por exemplo, vão fazer música, elas usam muitos beats próximos do trap, do rap e do funk. As estéticas se parecem. Você vai na C&A, Renner, que são lojas de departamento, e tem uma porrada de camiseta com grafite. Agora, diferentemente dessa cultura pop, acho que nós ainda não ganhamos o que merecemos pelo que nós fazemos. E não digo eu, falo do movimento de modo geral. Os grafiteiros, os Dj’s, os dançarinos, todos precisam de mais reconhecimento.
P. Como seus filhos (Jorge e Iolanda) influenciaram o disco? Eles deixaram tudo mais romântico?
R. Sim, acho que as crianças trazem melodia para nossa vida. Tenho falado muito isso. A Iolanda, por ser mulher, me fez ter outra percepção de mundo. O Jorge está com três anos, mas com tamanho de seis, totalmente desenvolvido, falando pra caralho, me questiona, briga, depois diz que me ama. Como que a gente não vai ficar melódico, chorão?! O disco foi todo produzido com a presença deles e reflete esse momento.