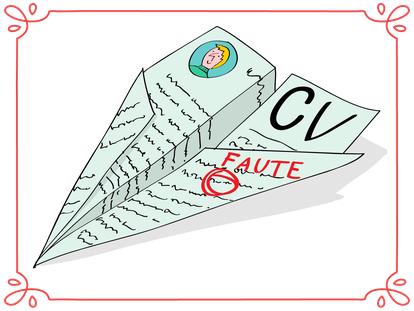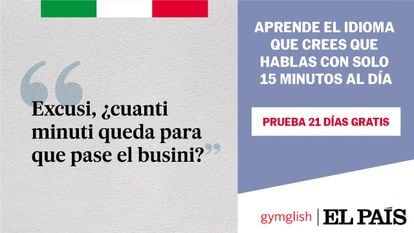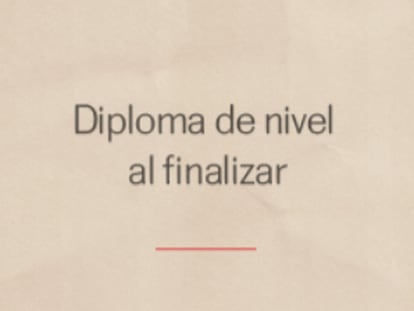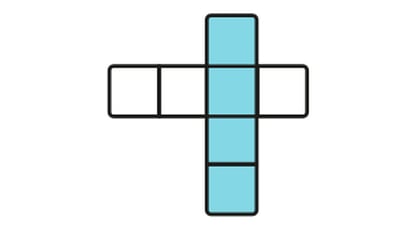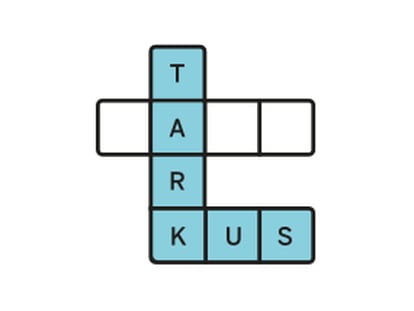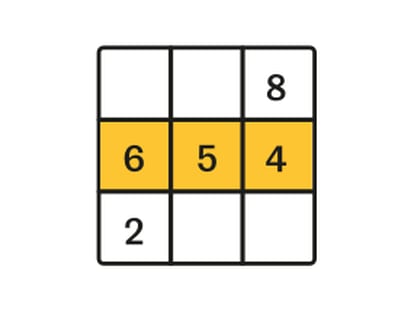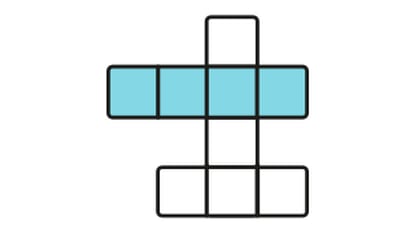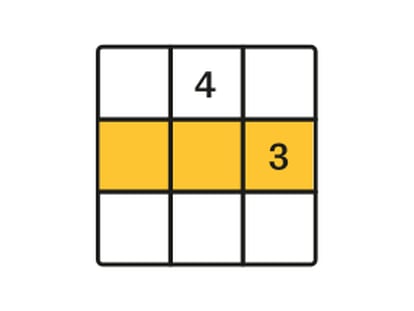Em busca dos pais, da vida e da verdade
Gavetas do poder no Brasil guardam seres humanos em busca de sua identidade

O roubo de bebês e crianças foi um crime praticado pela ditadura militar brasileira para paralisar a sociedade, impondo um projeto de dominação. Situação idêntica ao que ocorreu também em outros países da América do Sul, dominados pelos militares nas décadas de 1960 e 1970. Segundo destacou Adolfo Pérez Esquivel durante a luta pela identificação dos bebês argentinos sequestrados pelos militares na década de 1970 e 1980 – mantida pelas aguerridas Mães e Avós da Praça de Maio —, esse método de guerra “justificou a chamada ideologia de segurança nacional, procurando simplificar e polarizados conflitos: tudo que se opunha era subversivo, comunista ou era identificado com um inimigo”. O trabalho de Esquivel pelos direitos humanos lhe rendeu o Nobel da Paz em 1980.
Na Argentina, no Brasil e outros países sulamericanos, tal estratégia era e continua sendo uma perversão. Significava matar sem que houvesse morte. Fazer desaparecer, apagar. Negar até a própria morte, conforme disse Gilou Garcia Reynoso, psicanalista argentina que foi integrante do Conselho de Presidência da Assembleia Permanente pelos Direitos Humanos (APDH).
Reynoso, já falecida, destacou que para manter o poder as forças militares eram capazes de desempenhar qualquer tipo de esforço ou ação, que não reconhece limites, afirmação e onipotência. Ressaltou ainda que esse tipo de crime só se sustenta devido a adesão de parte da população. “Exige o consenso da população, pois é nele que se sustenta com tanto poder absoluto. Se o consegue, exerce sobre aquele que o sustenta uma ação tão deletéria como a que obtém pelas armas”, escreveu em 1988.
Ela teceu duras críticas às ações desempenhadas pelos militares para manter o poder e escrever a história. Defendia a necessidade de não se basear somente nas versões oficiais para entender o contexto histórico. A psicanalista destacava que crer na verdade oficial é “aceitar o impensável”. E não crer nessa verdade oficial, mas “dar seu apoio” era a mesma coisa que “ser cúmplice de uma montagem perversa”. Para ela, a imposição de versões pessoais (a narrativa histórica com base em fatos e personagens e documentos militares) desrespeita a lei e os parâmetros humanos.
A arrogância do poder militar exclui toda lei que não seja a sua. Mas seria uma lei a que ele impõe? Ou seria sua autoridade, seu autoritarismo, e a ausência de lei? O arbitrário de sua autoridade que se erige como sendo a própria lei, autoridade que se impõe como “verdade”. E recorre, para apresentar-se como legítimo, a um discurso de imposição, pelo qual infringe todas as leis: as do pensamento racional, as da ética, as da justiça dos homens, que, mesmo defeituosas, são um limite que sujeita o poder a seus procedimentos.
Um discurso perverso, que não respeita nem mesmo as leis da linguagem, discurso que se pretende sem mácula, impondo calar, esquecer, não saber. Negação da realidade, do real, do traumatismo, da verdade... Desejo que insiste e que conseguirá vencer a barreira do silêncio que ameaça ao país e o obriga ao esquecimento, escreveu Reynoso no livro “A psicanálise de sintomas sociais” (1988).
Aqui no Brasil, os militares forjaram narrativa sobre suas ações que esconderam esses crimes, que está contida em princípios estratégicos de manutenção de poder, segundo descreve o sociólogo e filósofo polonês Zygmunt Bauman em texto sobre sociedades e opressão. E leva os fatos ao esquecimento, não sem antes manipular as informações. Leva também à desconstrução da identidade das vítimas e da nação.
Assim, a arquitetura utilizada na construção da narrativa dessa fase da história brasileira, ainda consegue manter as forças militares limpas de qualquer mácula e mantém a morte social das vítimas desse crime de Estado.
Uma história similar à que foi contada por Bernardo Kucinski em “Julia” se passou com Lia Cecília Martins, adotada por um casal que trabalhava num orfanato na cidade de Belém, no Pará, em 1974 quando tinha poucos meses de vida. Os pais adotivos contaram a ela a condição de ser adotada – mas nunca revelaram os pais biológicos. Em 2009, ao ler em um jornal notícia sobre parentes de guerrilheiros assassinados pelos militares no Araguaia na década de 1970, não se conformou com a similaridade física que tinha com as irmãs de guerrilheiro Antônio Teodoro de Castro.
Procurou essas pessoas que viu no jornal. E, para encurtar a história, descobriu ser filha do guerrilheiro, depois que dois exames de DNA confirmaram que dela e as irmãs de Antônio Teodoro há compatibilidade de genes em mais de 90%. Importante destacar que o orfanato para onde a bebê Lia foi levada em 1974 pertencia a um tenente da Aeronáutica. Lia foi registrada num cartório, no Pará, somente em 1984, que tinha como tabeliã a irmã desse tenente.
Como Lia cidadã brasileira, a personagem Julia reconstruiu seu passado e descobriu que ela não era ela. Que era filha de uma militante de esquerda. Que tinha uma certidão de nascimento “fajutada” e que o processo de sequestro e apropriação teve, como escreve Kucinski, “muita gente metida nesse cambalacho”.
“Cativeiro sem fim” denuncia a existência desse crime de Estado e expõe a crueldade e o terror de subtrair um ser humano do meio de sua família biológica, expô-lo a violência psicológica, retirar-lhe a identidade original e tentar transformá-lo numa nova pessoa. Cada um do seu modo, os dois livros somam histórias, provas, documentos, depoimentos e fatos importantes para revelar o Brasil invisível da ditadura nas décadas de 1960, 1970 e 1980. Cenário que muitos ainda tentam manter sustentado, com base em narrativa que mostrou – até agora – a existência de “ação organizada militar” para salvar o país do “comunismo”. Qualquer semelhança com os dias de hoje parece ser coincidência?
Jogam luz sobre problemas e crimes da ditadura brasileira que estavam — e estão —escondidos até agora dentro de gavetas, colocados à margem da história pela narrativa criada pelo Estado militar. Mostram inquietações da sociedade e fazem entender parte do complexo jogo político que domina o Brasil desde 1964. As gavetas não estão guardando esqueletos ou calhamaços de papeis, mas seres humanos em busca de sua identidade. Em busca de seus pais. Em busca da vida.
Eduardo Reina é jornalista, autor de Cativeiro sem Fim (Alameda, 2019)