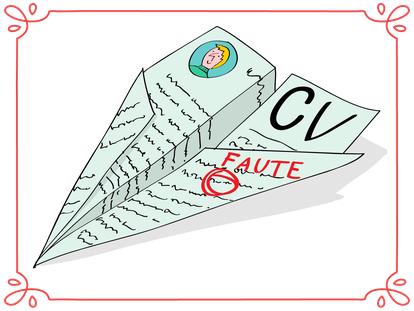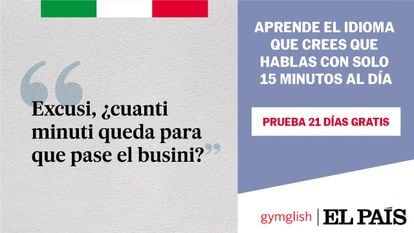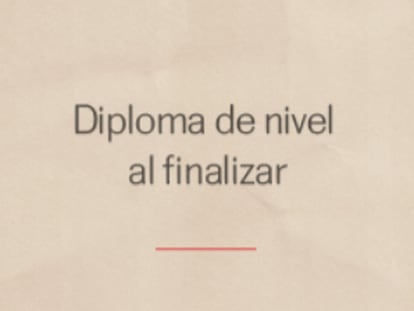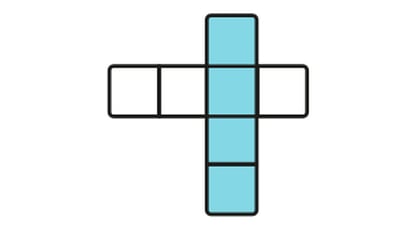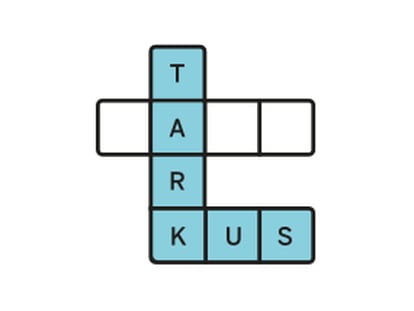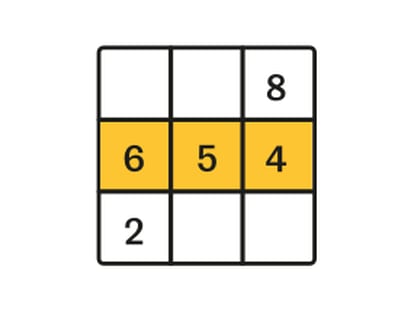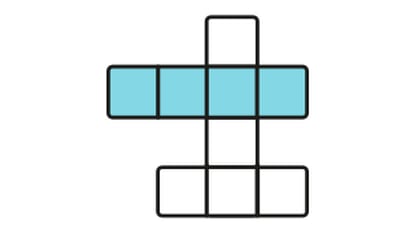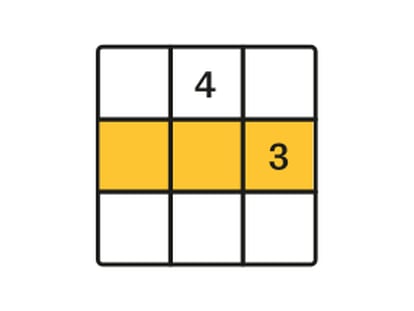O pior ano do Facebook
As investigações sobre a interferência russa em eleições e o caso Cambridge Analytica são só os casos mais conhecidos desses meses desastrosos para a rede social

Com mais de dois bilhões de contas, o Facebook é uma ferramenta central para a informação e as relações sociais. As decisões de seus diretores já não são as piadas de dormitório de estudantes onde foi criado em 2004. Neste fim de ano, imperam duas sensações: não estão claras as consequências sociais da expansão brutal do Facebook, e a empresa parece mais interessada em relativizar seu impacto do que em ajudar a entendê-lo. Mark Zuckerberg admitiu, numa reunião interna, que a empresa estava “em guerra” após um péssimo ano, em que os casos da Cambridge Analytica e as interferências russas foram apenas a cara mais conhecida da crise da rede social.
A percepção do Facebook mudou. Desde 2017, a rede enfrenta o caso do vazamento de dados e admitiu, em comunicados dubitativos, a atividade russa em sua rede. Em março de 2018, o Facebook foi acusado de ser uma plataforma geradora de ódio em Myanmar, além de casos similares no Sri Lanka e na Nigéria. Também durante este ano, uma dúzia de executivos e funcionários importantes abandonaram a companhia. Seu valor na Bolsa cai desde julho – não pelos escândalos, mas por não cumprir as expectativas de crescimento.
“A eleição de Donald Trump mudou tudo”, diz Harry Davies, ex-jornalista do The Guardian. Ele sabe por experiência própria. Em dezembro de 2015, quando ninguém ainda tinha ouvido falar de algo chamado Cambridge Analytica, Davies revelou seus truques. Fora do entorno mais preocupado com a privacidade, porém, ninguém prestou atenção. Na percepção coletiva, o Facebook continuava “unindo o mundo”, como reza sua missão.
Durante 2016 e 2017, mais de uma dúzia de artigos citavam a Cambridge Analytica como o “molho secreto” (segundo o The New York Times, por exemplo) da vitória de Trump. Mas isso nunca deixou de ser um detalhe a mais da campanha. Em 17 de março de 2018, no entanto, veio a explosão: a jornalista Carole Cadwalladr apontou no mesmo The Guardian: “50 milhões de perfis do Facebook coletados para a Cambridge Analytica numa enorme perda de dados”. A comoção foi mundial.
O que havia mudado em dois anos para a explosão de algo publicado havia tanto tempo? “É complexo e tem muito a ver com a dinâmica dos meios de comunicação”, diz Paul-Olivier Dehaye, um dos ativistas que seguem a pista da Cambridge Analytica desde 2015. Dehaye prestou depoimento duas vezes no Parlamento britânico, a última delas na terça-feira passada. “Em março ocorreram três coisas. Primeiro, um vídeo gravado com câmera escondida [pelo Channel 4] mostrou que a Cambridge Analytica não era só uma agência digital; depois, Chris Wylie despontou como denunciante; e, finalmente, o Facebook ameaçou jornalistas para evitar [a publicação do] artigo.”
O documentário do Channel 4 revelava que a SCL, matriz da Cambridge Analytica, havia trabalhado em países em desenvolvimento com armadilhas tétricas, como provocar adversários para que fossem flagrados em fotos comprometedoras. Wylie, por sua vez, era um canadense de cabelo rosa que havia deixado a Cambridge Analytica em 2014, mas que sofreu “remorsos” com a vitória de Trump e se sentiu obrigado a falar “por responsabilidade”. O caso tinha agora protagonistas claros: os da Cambridge Analytica eram muito maus, e o jovem com cabelo colorido era uma boa foto.
“Essa busca desesperada de respostas para a vitória de Trump nutriu o considerável interesse na Cambridge Analytica e provavelmente inflou o significado da empresa”, afirma Davies. Ainda não havia respostas à pergunta-chave: como foi possível que Trump vencesse? “Dizer que quase 50% dos eleitores pensam parecido com Trump é inaceitável para muitos, em minha opinião. É mais reconfortante pensar que alguém enganou esses eleitores com estratégias ilegítimas”, diz Álgel Cuevas, pesquisador da Universidade Carlos III que há anos estuda o Facebook.
Como surgiu a Cambridge Analytica
Em 2014, um jovem estudante de psicologia de Cambridge, Alexander Kogan, criou um aplicativo para conhecer a personalidade das pessoas com supostos fins acadêmicos. Mais de 270.000 usuários baixaram o app no Facebook. Graças a uma autorização da rede agora eliminada, Kogan pôde levar consigo os dados dessas 270.000 pessoas e de todos os amigos delas. Com esses milhões de perfis, seu objetivo era definir tipos básicos de personalidade a partir dos likes do Facebook. Esses dados foram a base do trabalho da Cambridge Analytica.
Para quê? Foi o que Wylie explicou no Parlamento. “Pode aparecer assim um perfil de pessoas mais dadas a conspirações, para as quais é possível prever a probabilidade de que sejam mais receptivas a anúncios com webs e fake news”, afirmou. Uma vez definidos quais likes ou interesses fazem com que um indivíduo seja mais propenso a ser, por exemplo, um neurótico, o Facebook permite direcionar publicidade a pessoas similares. Assim, um anunciante pode determinar 10.000 clientes segundo esses traços e pedir que o Facebook busque um milhão de pessoas parecidas. Um detalhe importante é que ninguém mais vê esses anúncios: eles existem só para um grupo de eleitores, e mais ninguém pode avaliar seu conteúdo.

O trabalho da Cambridge Analytica acrescentava supostamente esse duvidoso fator emocional ao que milhares de empresas já fazem: identificar os perfis de seus clientes e mandar a eles a melhor publicidade possível. Afinal, a Cambridge Analytica mudou o destino da eleição de 2016 e do Brexit? É pouco provável. Os anúncios personalizados no Facebook mudaram o resultado? É mais provável, segundo estudos acadêmicos.
O mérito russo
Como se não bastasse, faltavam os russos. A Rússia realizou supostamente duas ações na campanha de 2016: primeiro, hackeou os servidores do Partido Democrata e divulgou seu conteúdo; depois, fez uma consistente campanha de influência para fomentar a discórdia e a desinformação entre os eleitores. O Facebook foi uma ferramenta extraordinária para a segunda ação. De acordo com a rede social, 126 milhões de americanos viram informação publicada por agentes russos. Se por exemplo os russos tiveram acesso aos dados sobre likes – ou se Kogan lhes repassou os dele –, sua campanha de influência pôde ter tido uma base mais sólida. O Parlamento britânico diz possuir e-mails que explicam de que forma em 2013, a partir da Rússia, foram coletados dados pessoais do Facebook com um sistema similar ao usado pela Cambridge Analytica. Se isso for confirmado, seria uma notícia ainda pior para a rede social.
O debate sobre a eleição de 2016 continua aberto, mas não é irreal pensar que o Facebook possa ter tido um papel. Dias depois das eleições, Zuckerberg disse que era uma “ideia bastante louca” pensar que as fake news tivessem decidido a vitória de Trump. A precipitação de sua opinião não ajudou. Graças a uma investigação do The New York Times, soube-se que o interesse dentro da empresa em revelar a operação russa não foi implacável. A número dois, Sheryl Sandberg, tornou mais lento o processo de investigação interna e publicação dos resultados. O Facebook parecia mais interessado em dissimular do que em corrigir a plataforma. “Há maneiras de entender o impacto, mas isso exige o acesso a dados que só o Facebook tem”, afirma Dehaye. A rede não compartilha nada.

Essa não foi a única má decisão política do Facebook. Nos últimos meses, a rede social contratou uma empresa de relações públicas, a Definers, para criticar competidores e ativistas com mensagens duvidosos. Dois nomes se destacaram: Apple e George Soros, o presidente da Open Society. A campanha contra Soros é especialmente sensível porque ele é um alvo habitual dos antissemitas. “Quando começam a surgir repreensões contra o Facebook, é óbvio que os grupos que o criticam estarão mais ativos”, diz Jordi Vaquer, diretor europeu da Open Society. “Alguns deles tiveram financiamento da Open Society, outros não. Mas a novidade é que o Facebook recorra à ferramenta dos autócratas: usar o argumento de que um bilionário lhes paga para causarem danos em vez de enfrentar o problema.”
O algoritmo incompreensível
O Facebook diz que é só uma plataforma onde os usuários criam conteúdo. Mas essa é uma de suas grandes mentiras. Zuckerberg não é comparável a um diretor de jornal, que encarrega, edita e ordena as informações. Mas tampouco é uma janela transparente. O Facebook decide o que vemos e a ordem do que vemos. São duas decisões enormes, tomadas na maioria das vezes por um algoritmo.
Essa rede é uma agência de notícias pessoal sem transparência. Vistos de fora, é difícil compreender fatores como a eficácia de seus anúncios, a polarização das notícias falsas e seu uso para radicalizar. “Estamos começando a entender a influência dos algoritmos na opinião, mas ainda não temos estudos comparando pessoas expostas a algoritmos com as que não são”, diz Chris Bail, professor da Universidade Duke.
O objetivo do algoritmo não é ajudar a fazer um mundo melhor, mas nos manter na página para vermos mais anúncios. O melhor conteúdo, portanto, é o mais impactante. Numa admissão extraordinária, Zuckerberg escreveu num longo post, em 15 de novembro, que um dos maiores problemas das redes é que, “quando são deixadas sem controle, as pessoas se envolvem desproporcionalmente com um conteúdo mais sensacionalista e provocativo. Não é um fenômeno novo. Abrange a TV a cabo e os tabloides. Quando ganha escala, pode minar a qualidade do discurso público e levar à polarização”.
“As redes permitem transmitir informação mais radical mais rápido. No passado, as pessoas deviam assinar um jornal radical ou se reunir num porão”, diz Thomas Zeitzoff, professor da Universidade Americana de Washington. “Mas agora podem ler conteúdo radical nas redes direcionado a pessoas como elas.”

Segundo Zuckerberg, o Facebook deixará de promover conteúdo sensacionalista: dará, sempre supostamente, menos iscas para isso. A mudança traz um risco: “Se a nova versão dos algoritmos selecionar conteúdos de menor interesse para os usuários, eles aos poucos reduzirão seu tempo no Facebook”, diz Cuevas. Talvez, dentro da empresa, tenham visto que é sua melhor saída.
Quando Mark Zuckerberg compareceu ao Congresso em abril, o senador republicano Lindsey Graham insistiu para que dissesse quais eram seus competidores. Zuckerberg não respondia, e Graham lhe perguntou: “Vou lhe dizer assim. Se compro um Ford e não funciona, posso comprar um Chevrolet. Se não gosto do Facebook, qual é o produto equivalente que posso buscar?” Zuckerberg continuou com evasivas, até que Graham lhe perguntou se acreditava que tinha um monopólio. Zuckerberg disse então: “Não tenho essa sensação de jeito nenhum!”
Na verdade, não há uma alternativa idêntica ao Facebook, mas Zuckerberg tem razão ao dizer que não compete com aplicativos que se sobrepõem: todos querem o tempo e a atenção do usuário.
A combinação de milhões de usuários, tempo de consumo e dados de cada indivíduo faz com que o Facebook seja uma potência única. No fundo, é uma história de sucesso impressionante. Em 2006, o Facebook era algo fechado para universidades americanas. Hoje, há países onde é sinônimo de Internet. A empresa é dona também do Instagram e do WhatsApp, duas minas inexploradas e infindáveis.
O Facebook não quer uma regulação que limite sua expansão, que o obrigue a vender suas propriedades nem que o leve a ser transparente com seus dados. Mas começa a estar num ponto em que não depende deles. A pior consequência dessa longa crise é a sensação de que não é uma empresa confiável para ter os dados íntimos de todos. Em 2017, Zuckerberg e Sandberg apareciam em pesquisas como futuros presidentes ou membros do Governo. Depois desse ano turbulento, essa porta se fechou para eles. O Facebook, até agora, resiste.
Mais informações
Arquivado Em
- Caso Cambridge Analytica
- Dados analíticos
- Eleições EUA 2016
- Banco dados
- Escândalos políticos
- Redes sociais
- Eleições presidenciais
- Eleições EUA
- Cibernautas
- Computação
- América do Norte
- Eleições
- Segurança internet
- Empresas
- Internet
- América
- Informática
- Economia
- Telecomunicações
- Tecnologia
- Comunicações
- Política
- Indústria
- Ciência