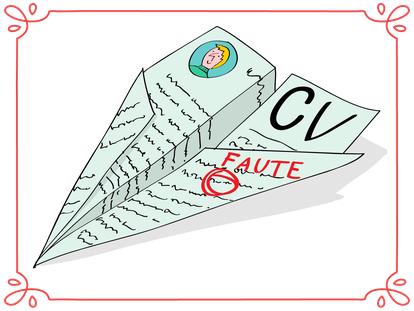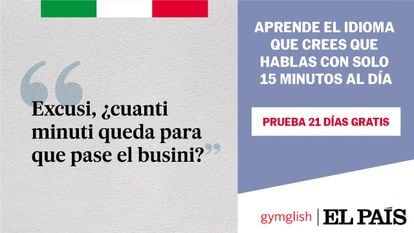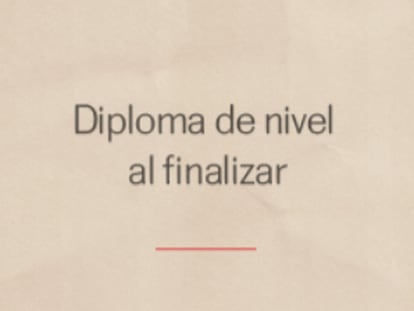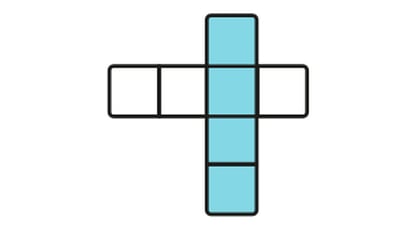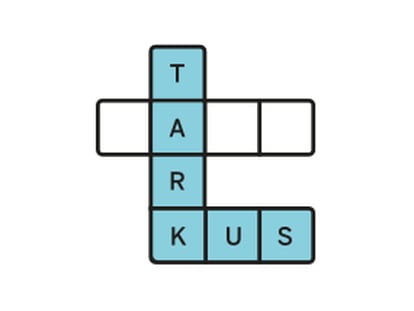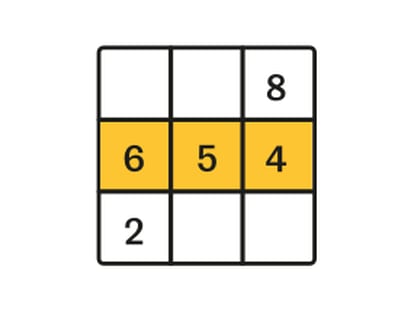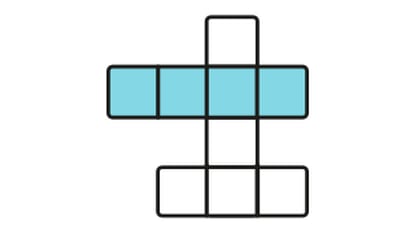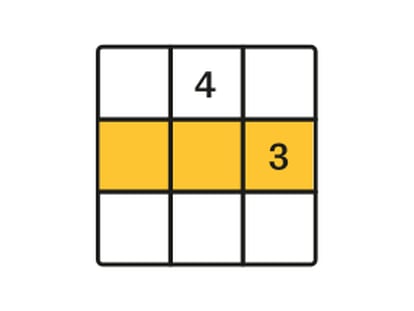O regresso de Cat Power à calma
Cantora volta com ‘Wanderer’, ode ao poder da mulher

Quando, depois de seis anos de silêncio discográfico, uma eternidade no mundo atual em que não gerar informação equivale a deixar de existir, soube-se que Cat Power acompanharia Lana del Rey durante praticamente toda a sua turnê europeia na última primavera –com paradas em Madri e Barcelona– soaram os alarmes: era o ícone atormentado da década de 90 –e de 2000–, a garota triste que entrava e saía de centros de reabilitação e enfeitiçava com álbuns cheios de músicas com a profundidade de abismos, que doíam –tal era a sua capacidade de exposição– como objetos pontiagudos, um mero tempero da multitudinária turnê da diva nova-iorquina?
Quem então podia saber, quando a única informação que se tinha de Chan Marshall era transmitida por ela mesma em sua conta no Instagram. Foi assim que o mundo soube que se tornara mãe. Em 28 de abril de 2015, ela se queixou de não ter ouvido falar da morte de Freddie Gray, um jovem negro, nas mãos da polícia em Baltimore, porque acabara de ter um bebê e sair do hospital, onde estivera completamente desconectada de tudo. E também foi através de uma rede social –oTwitter– que se pôde saber que Wanderer, seu décimo álbum, estava a caminho. Ela mesma fez o anúncio em 18 de julho. Será lançado em 5 de outubro.
Os primeiros detalhes chegaram há poucos dias. É intitulado Woman, tem os coros de Lana del Rey e é, além de uma declaração de intenções mântricas (a letra é uma ode ao empoderamento feminino), um retorno à calma e ao que ela mesma definiu como soulternative, o som que explodiu no disco que marcou o auge de sua carreira, The Greatest (2006); ou seja, Chan hipnotizando com sua voz quebrada, a Nina Simone de um doloroso pós-grunge, cercada por uma aparente jam soul que às vezes se tornava um abismo não tão duro (The Greatest, Love & Communication) e que lhe valeu a definitiva entrada nas listas dos melhores do ano em todo o mundo.
Nota-se pelo tom do álbum, menos intratável, embora igualmente abismal, que conseguiu pôr ordem em sua vida
Marshall, nascida em 1972 em Atlanta, e com pais divorciados –ele, pianista de blues– passou a infância e, pior ainda, a adolescência indo de um lugar para outro, mudando várias vezes de escola –um pesadelo para qualquer um não acostumado a ser o centro das atenções–, e se permaneceu à tona, disse uma ocasião, foi graças aos discos de seu padrasto, discos de Otis Redding, Creedence Clearwater Revival e dos Stones. Aos 20 anos, ela se instalou em Nova York e logo estava tocando no mítico CBGB e produzindo seus dois primeiros discos ao mesmo tempo, o espinhoso Dear Sir (1995) e Myra Lee (1996), junto com Steve Shelley, o baterista do Sonic Youth, e Tim Foljahn.
Aquelas primeiras investidas – às quais logo se somaria What Would The Community Think (1996)– eram todas escuridão e tormento, uma espécie de noise-folk extremamente lo-fi. Suas performances ao vivo eram praticamente insuportáveis por causa do alto grau de exposição –ou autodestruição– da própria Chan, que nos anos seguintes fez de sua dor três criações poderosas: o ainda pouco acessível Moon Pix (1998); o magistral The Covers Record (2000), quase um gênero em si mesmo, ou a irreconhecível versão à la Marshall, e You Are Free (2003), o disco que a levou aos estúdios de late-shows envolta em enormes camisas xadrez e usando sua já clássica franja tapa-olhos e uma cabeleira capaz de esconder o horror do momento –seu medo do palco era evidente– de interpretar ao piano I Dont’ Blame You.
É precisamente com o álbum You are Free que Wanderer mais dialoga, um retorno à calma, não tão tempestuoso, após o desvio eletrônico que Sun (2012) representou seis anos atrás. Na verdade, Robbin Hood poderia ser considerada a nova Werewolf e Me Voy estaria à altura do clássico Maybe Not. Parece que depois de anos de caos, momentos de superexposição e retorno à escuridão mais absoluta; de rodar com Wong Kar-Wai (My Blueberry Nights) e posar para a Chanel (Karl Lagerfeld a tornou sua musa depois de a ver fumando um cigarro, porque não havia nenhuma criatura sobre a Terra, ele disse, mais bonita do que ela fumando aquele cigarro) e para a Levi’s, de tentar desaparecer (quis tirar a própria vida em 2006 e terminou num hospital psiquiátrica); se apaixonar e acreditar que a coisa era séria (o felizardo, Giovanni Ribisi), perder primeiro ele e depois sua casa, ficar na rua e não servir para nada ter um segundo disco de versões (não tão bom) lançado (Jukebox), Chan decidiu voltar ao ponto de partida.
Nota-se pelo tom do álbum, menos intratável, mas igualmente abismal, que conseguiu colocar sua vida em ordem -–na qual não estão somente ela e seus três cães, Paloma, Abuelo e Mona, mas também o pequeno Marshall–, por ora. Se seus shows continuarão a ser imprevisíveis bombas-relógio –seus problemas com o álcool costumavam manter o público em suspense durante os shows; em Joy Eslava, há alguns anos, ela parecia mais preocupada em não cair do par de enormes sapatos masculinos que usava do que com as vaias do público– ou não, vamos ver em breve. Em novembro ela passará por Barcelona, Madri e Benidorm. Seja qual for o caso, há alguns dias postou em seu Instagram a foto de uma cópia em francês de The Balada of the Sad Café, de Carson McCullers, e escreveu: “Minha vida”. Bem, é isso.