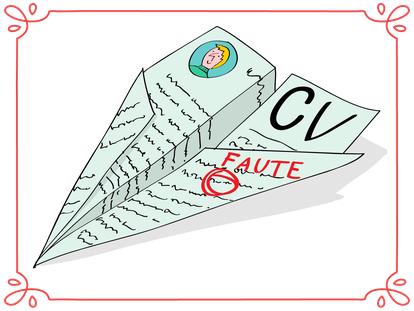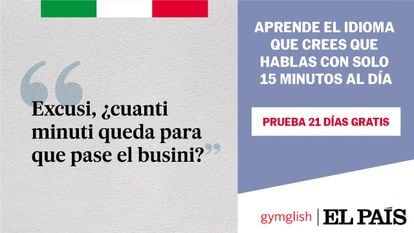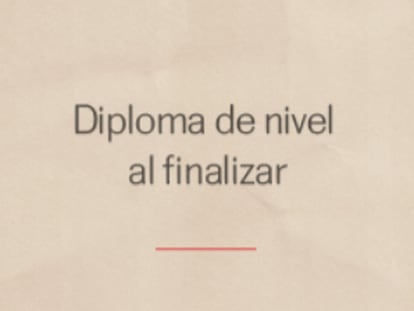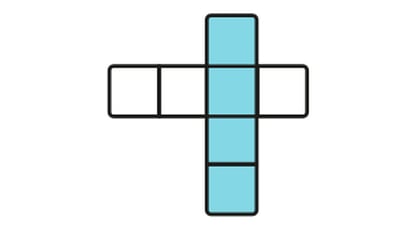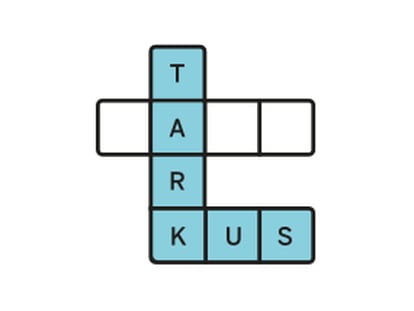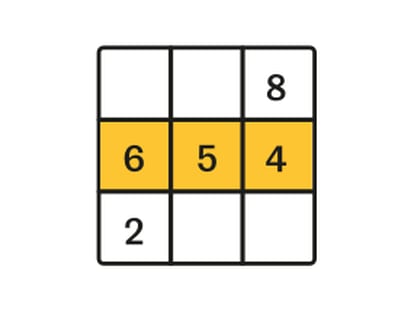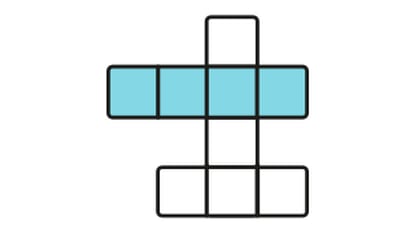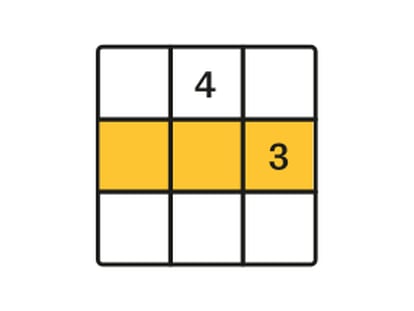O FMI e as grandes crises argentinas: ditadura, hiperinflação e corralito
Sua presença no país sul-americano está ligada a períodos de grandes crises econômicas


Em 1967, em um texto escrito em seu exílio na Espanha, Juan Domingo Perón contou que a primeira visita que recebeu quando chegou ao poder em 1946 foi a do presidente do Fundo Monetário Internacional, o belga Camille Gutt, que o convidou a colocar a Argentina na lista de associados. Perón lhe disse que iria pensar e pediu a dois de seus assessores que pesquisassem de que se tratava esse novo órgão surgido um ano antes, dos acordos de Bretton Woods. “O resultado foi claro: se tratava de um novo engenho putativo do imperialismo” escreveu Perón. Mais de 70 anos depois desse diagnóstico, pouco mudou a opinião que muitos argentinos têm do FMI, agora de volta ao país graças ao resgate financeiro pedido nessa semana pelo presidente Mauricio Macri. Essa persistência está relacionada a uma longa história de encontros e desencontros, coroada sempre por períodos de bonança que terminaram em profunda crises econômicas, a mais grave em 2001.
O repúdio argentino ao FMI durou tanto quanto Perón no Governo. Em 1956, após o golpe militar, o general Pedro Aramburu pediu ajuda financeira ao Fundo e iniciou uma relação que ainda perdura. O FMI ajudou mais tarde o Governo democrático de Arturo Frondizi (1958-1962) e o provisório de José María Guido (1962-1963). Naquela época, a dívida com o FMI já havia chegado a 2,1 bilhões de dólares (7,5 bilhões de reais). O espírito daqueles empréstimos não pode ser comparado ao atual. “Nos anos 50 e 60 eram empréstimos de curto prazo, para enfrentar problemas de liquidez e evitar desvalorizações desestabilizadoras”, explica Pablo Nemiña, pesquisador em economia política do Conicet, Unsam e Flacso. A grande mudança veio em 1971, quando os EUA mudaram a regra do jogo e desvalorizaram sua moeda para deter o expansionismo comercial da Europa e Japão.
Morto o compromisso de não aplicar desvalorizações competitivas, as moedas flutuaram livremente e o poder de empréstimo do FMI foi assumido pelos bancos. O FMI perdeu então sua razão de ser. É a década da “travessia do deserto” do Fundo, quando não encontra seu lugar no mundo. Na Argentina, entretanto, apoiou sem discussões a ortodoxia econômica da ditadura. Foi o período de maior crescimento da dívida argentina, que passou de 7 bilhões de dólares (25 bilhões de reais) em 1976 para 42 bilhões de dólares (150 bilhões de reais) em 1982. “Entre 76 e 78 existiram 29 meses sob o acordo com o FMI. O PIB cresceu 1% e a inflação foi de 265%. Tudo isso com o FMI controlando as contas”, lembra o historiador econômico Mario Rapaport. Para Nemiña, o FMI “desempenhou um papel estratégico para dar apoio técnico, político e financeiro” à abertura dos mercados desenvolvida pelo ministro da Economia dos militares, José Martínez de Hoz.
Depois vieram os anos 80, a década das grandes crises de dívida que se seguiram ao calote decretado pelo México. Todo esse mundo de prestamistas multilaterais que parecia fantástico explodiu pelos ares e os bancos privados deixaram de emprestar dinheiro. “Aparecem então os créditos do Fundo que permitem a manutenção dos pagamentos”, diz Nemiña, “é sua época de maior intervenção, porque aumentam as condições para emprestar”.
A democracia estava de volta na Argentina e Raúl Alfonsín era o presidente. São os tempos do “plano Austral” e o “plano Primavera”, todos fracassados, antessalas da hiperinflação de 1989. Os argentinos lembram de anos de ajuste, fruto das condições impostas pelo Fundo para outorgar cinco linhas de crédito a uma economia que não conseguia decolar. Tudo mudou nos anos 90, com o Plano Brady, que transformou dívidas externas impagáveis em títulos públicos com vencimentos a longo prazo. Nesse ano, Carlos Menem chegou ao poder na Argentina.
O peronista impôs a convertibilidade, como chamou a paridade um para um do peso com o dólar, e conseguiu reduzir a inflação a zero. O FMI abraçou a convertibilidade e acompanhou o modelo com seis créditos até 1998. “Não eram importantes em volume, mas davam um certificado de qualidade, uma legitimidade que permitia a diminuição das taxas de juros aos investidores”, diz Nemiña. As crises mexicanas, russas e do sudeste asiático no final da década tornaram insustentável o modelo de Menem, dependente da entrada de dólares do exterior.
A Argentina logo entrou em recessão, já nas mãos do radical Fernando de la Rúa, e o FMI apostou até o fim em manter a convertibilidade. Os argentinos recordam ainda a “blindagem” e o megacanje (“megatroca”), os 48 bilhões de dólares (173 bilhões de reais) que o FMI pôs à disposição do país sul-americano. “O Fundo afirmava que era preciso se apegar mais ao modelo neoliberal, e a Argentina foi o último exemplo de sucesso para mostrar ao mundo. ‘Vejam, o problema é a implementação, aqui há um país que faz isso bem’, dizia”. A história terminou em dezembro de 2001 com o corralito e a suspensão de pagamentos de uma dívida de 144 bilhões de dólares (518 bilhões de reais), a maior moratória já declarada. O fracasso de seu aluno predileto afundou o FMI no descrédito, tanto que em 2003 o organismo elaborou um documento interno no qual tentou explicar os erros cometidos.
No final de 2000, “a função do FMI [na Argentina] se deslocou para o manejo da crise”, escreveram os técnicos do Fundo em seu relatório. “Em várias ocasiões durante o ano seguinte, o FMI enfrentou um dilema crítico: fornecer financiamento, evitando assim uma crise, mas também prolongando uma situação potencialmente insustentável, ou pôr fim a seu apoio, desencadeando consequências imprevisíveis”, acrescentaram. A imagem do Fundo não podia ser pior. “Suas maiores intervenções ocorreram sob políticas neoliberais, coincidentes com a hiperinflação do final dos anos oitenta e a deflação do fim dos noventa. A contribuição do FMI para a Argentina foi o controle da economia com base nas políticas do consenso de Washington, com uma variante que foi a convertibilidade”, resume Rapaport.
Em 2001, a Argentina desvalorizou sua moeda em 40% e viu como sua pobreza atingia seis de cada dez argentinos, um recorde histórico. Chegaram então os anos do kirchnerismo e o auge das matérias-primas. O dinheiro sobrava, o déficit logo se transformou em superávit e, como um grito de guerra, Néstor Kirchner pagou em 2006 a dívida de 9,8 bilhões de dólares (35 bilhões de reais) que ainda unia a Argentina ao Fundo. Foi uma ruptura simbólica, mas muito potente. O Fundo fechou seu escritório em Buenos Aires e a Argentina ficou isenta das revisões periódicas dos técnicos do organismo. Até que chegou Mauricio Macri e decidiu pedir um resgate. Também foi uma decisão carregada de simbolismo, como a de Kirchner, mas em sentido contrário. Resta saber até que ponto a pesada história do FMI na Argentina, cheia de lembranças desagradáveis, afetará Macri.