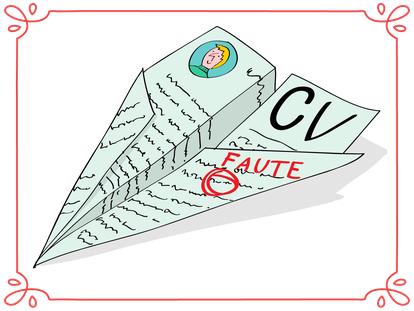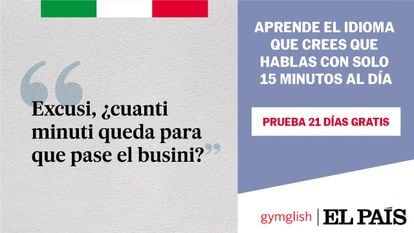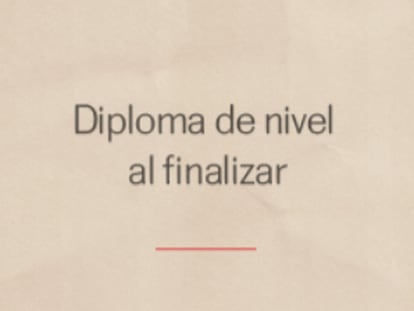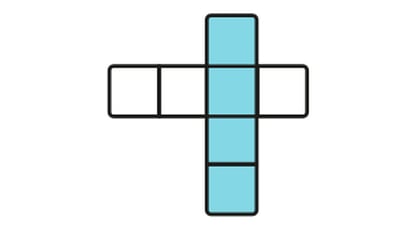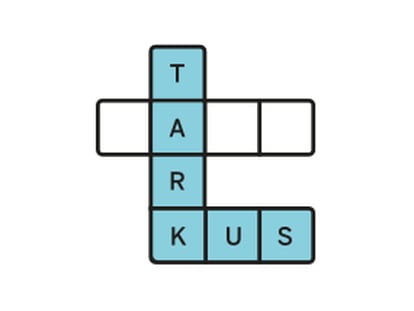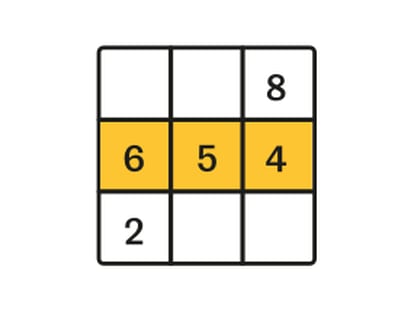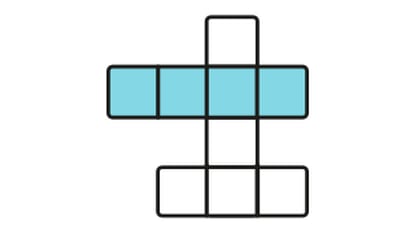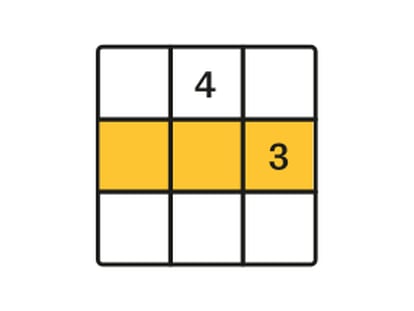Facebook foi crucial para limpeza étnica do século XXI em Myanmar
Rede social foi a correia de transmissão do discurso islamofóbico do clero budista. ONU vê indícios de genocídio dos rohingyas na atuação sistemática do Exército birmanês

Khaleda Begum tem flashbacks. Às vezes a cabeça lhe trai e ela revive o assassinato dos seus pais. Conta que os soldados birmaneses convocaram todo o povoado, os homens e as mulheres. Os moradores achavam que iam a uma reunião comunitária, mas começaram a matá-los. A tiros. A golpes de facão. Os soldados subiam nas árvores para disparar. Era por volta de meio-dia. Os militares acusavam os aldeões de esconderem insurgentes. “Não sei nada sobre eles”, insistia e insiste ela. Khaleda sobreviveu. E fugiu. Esta rohingya atualmente recebe tratamento psicológico em um campo de refugiados de Bangladesh. A violência extrema desatada a partir de agosto pelos militares, com a colaboração de turbas budistas inflamadas por monges xenófobos através do Facebook, representa o apogeu de um sistemático processo de perseguição dessa minoria muçulmana que começou nos anos setenta.
Primeiro a ONU e depois os Estados Unidos acusaram o Exército de Myanmar de violar a legislação internacional e perpetrar uma limpeza étnica. O enviado das Nações Unidas para a prevenção do genocídio, Adama Dieng, suspeita de algo ainda mais grave: “A informação que recebi indica que a intenção dos perpetradores era limpar o Estado de Rakhine da sua presença, talvez até mesmo destruir os rohingyas como tais, o que, se ficar comprovado, significaria um crime de genocídio”, declarou Dieng no mês passado após visitar os membros dessa minoria muçulmana em Bangladesh.
As autoridades de Myanmar negam quase todas as acusações. Só reconheceram uma matança, a de Inn Din, em 2 de setembro de 2017. Justamente a que era investigada por dois jornalistas locais da Reuters encarcerados desde dezembro. A agência de notícias documentou a execução extrajudicial de 10 aldeões muçulmanos acusados de terrorismo. Sete soldados foram condenados nesta terça-feira a 10 anos de trabalhos forçados pelo massacre, informou o Exército pela via que usa habitualmente para seus anúncios oficiais: um post no Facebook.
A liberdade de expressão, os telefones celulares e essa rede social são algumas das novidades que a democratização trouxe para este país de maioria budista. “Temo que o Facebook tenha se transformado numa fera, o que não era a intenção original”, declarou a investigadora da ONU para Myanmar, Yanghee Lee, em março em Genebra. Os especialistas no país concordam que o Facebook foi a grande correia de transmissão do ódio em Myanmar – a versão 2.0 da rádio Livre das Mil Colinas no genocídio de Ruanda, em 1994.
Lá Internet significa Facebook. Os birmaneses não navegam na web, não vão ao Google, e sim à rede social, que até as instituições usam. Depois que Mark Zuckerberg se gabou numa entrevista, a propósito do escândalo pelo suposto vazamento de dados, sobre a suposta eficácia da sua empresa em detectar e eliminar os discursos que incitam ao ódio no país asiático, um grupo de empreendedores e representantes da sociedade civil birmanesa publicou uma carta aberta acusando-o de ter feito vista grossa às advertências que eles mesmos lhe enviaram. Os signatários insistiram para “investir mais em moderação”, sobretudo em lugares como Myanmar, “onde o risco de que os conteúdos do Facebook desatem a violência aberta é agora maior do que em qualquer outro lugar”.

A carta é ilustrada com mensagens quase idênticas em que um budista (ou um muçulmano) alerta a um correligionário que a outra comunidade vai cometer um ataque em Rangum em 11 de setembro e termina com um “por favor reenvie esta mensagem aos nossos irmãos”.
Zuckerberg se desculpou com esses grupos da sociedade civil birmanesa e nesta semana anunciou que o Facebook reforçará seus mecanismos contra o discurso xenófobo em Myanmar e analisará possíveis mensagens de ódio em 24 horas. Também prometeu contratar dezenas de falantes de birmanês porque, segundo ele, a rede “precisa redobrar dramaticamente seus esforços por lá”. O fundador do Facebook disse ao Congresso dos EUA que também em Myanmar sua empresa deve “fazer mais” esforços.
A especialista no estudo do genocídio ressalva que “se não tivesse havido o Facebook seriam usados outros meios de propaganda”. “A imprensa estatal é muito poderosa aqui, mas o Facebook certamente desempenhou um papel significativo possibilitando a difusão de discursos que incitam ao ódio e o medo, e inflamando o ódio nas comunidades a grande velocidade”.
O clero budista foi um dos setores que mais estimularam o ódio e as ofensas entre comunidades, ao insistirem em que os rohingyas, que são muçulmanos e apresentam taxas de natalidade mais altas, significam uma ameaça para o budismo majoritário. As autoridades proibiram o monge birmanês mais famoso, o ultranacionalista Ashin Wirathu, de pregar durante um ano, como punição pelo ódio que destilava em seus sermões. O veto expirou em março.
Impregnou-se a ideia de que o inimigo número um são os rohingyas, não os militares, como antigamente. Ao receio em relação ao islamismo se somam os medos históricos. Os rohingyas lutaram com os britânicos na Segunda Guerra Mundial, e os budistas, com os japoneses.
A Iniciativa Internacional para os Crimes Estatais (ISCI, na sigla em inglês), da Universidade Queen Mary, de Londres, publicou em 2015 um relatório com um título eloquente: Contagem Regressiva para a Aniquilação. Genocídio em Myanmar. Seus autores afirmavam então que “os rohingyas enfrentam potencialmente as duas fases finais do genocídio: a aniquilação maciça e seu apagamento da história coletiva”. Alicia de la Cour Venning, coautora daquele relatório, explica em entrevista telefônica de Rangum, a maior cidade de Myanmar, que “o genocídio é um processo que pode durar anos. Nem sempre é linear, às vezes as fases se sobrepõem. Mas todos os genocídios seguem o mesmo padrão”. A ISCI o define em seis fases: desumanização, perseguição, segregação, debilitação sistemática do grupo, aniquilação maciça e eliminação da história comum. A pesquisadora detalha como as autoridades de Myanmar, de maioria budista, tratam essa minoria muçulmana como estrangeiros, impedem seu acesso a escolas e hospitais, os confinam em acampamento ou povoados-prisões… Uma evolução que, segundo ele, acelerou-se com a transição para a democracia.
Como o acesso da imprensa e das ONGs ao Estado de Rakhine está muito restrito, é difícil avaliar com precisão as consequências da campanha militar empreendida pelo Exército em represália por um ataque de rohingyas a delegacias de polícia que causou a morte de 12 agentes, em agosto. A ONU suspeita que houve “planejamento” por parte dos militares, que “reforçaram sua presença antes dos ataques do ARSA (um grupo armado rohingya)”. A ONG Médicos Sem Fronteiras calcula que no mês seguinte 9.400 rohingyas morreram, sendo 6.700 diretamente pela violência (70% a tiros, 10% queimados vivos, 5% espancados, 2,6% estupradas…). O cálculo se baseia na pesquisa com sobreviventes nos campos de refugiados de Bangladesh, para onde 700.000 pessoas fugiram em poucas semanas.
Reduwna, de 18 anos, destaca-se entre os seus por ter concluído o ensino fundamental. Fingiu ser de outra etnia. Conta que “quando os militares começaram a estuprar as mulheres”, estas fugiram para a mata, onde se esconderam por vários dias. “Cruzamos 17 povoados para chegar aqui, demoramos 22 dias”, relata essa voluntária rohingya da ONG Danish Refugee Council no campo de Kutupalong. Diz que alguns moradores ficaram. “São ricos que tinham propriedades, iam dando-as” aos agressores.
Dos 1,2 milhão que viviam em Myanmar, restam 500.000 depois do êxodo, incluídos 120.000 encerrados em campos de detenção, e outros milhares confinados em suas aldeias. Como as autoridades os privaram da cidadania birmanesa em 1982, são excluídos dos serviços educacionais e sanitários. Subsistem em condições muito precárias. Também lhes negam o nome. Nem a Nobel da Paz Aung San Suu Kyi, principal autoridade do país, nem a maioria dos birmaneses pronunciam a palavra rohingya. Chamam-nos de bengaleses ou kalar (um termo depreciativo para muçulmano). Consideram-nos imigrantes de Bangladesh, onde o islamismo é majoritário.
Aquela que começou em 2010 como uma promissora democratização – os militares surpreenderam o mundo ao darem lugar a um Governo civil a com a ex-dissidente Aung San Suu Kyi, abrindo assim ao mundo o último grande mercado da região – foi sacudida pela brutal ofensiva militar e a fuga maciça da minoria muçulmana. Os Estados Unidos impuseram sanções a alguns generais. A Comissão Europeia criticou as graves e sistemáticas violações de direitos humanos e propuseram sanções a chefes do Exército. As potências ocidentais mantêm um frágil equilíbrio porque temem que, se forem muito duras com as autoridades birmanesas, jogarão o país para os braços da China, fiel aliada na ditadura e agora na abertura econômica.
A especialista De la Cour diz que os perpetradores “às vezes promovem matanças para testar a reação popular, porque precisam que os locais sejam cúmplices ou participem, como vimos na Alemanha, Ruanda e Bósnia”. Afirma que “as matanças de outubro de 2016 foram um teste, não houve reação da comunidade internacional. O chefe das Forças Armadas foi recebido pouco depois na Alemanha e na Áustria”.
Só o Conselho de Segurança da ONU poderia submeter os líderes de Myanmar ao Tribunal Penal Internacional, já que o país não está vinculado à corte. Mas o veto chinês é quase seguro. Na opinião da pesquisadora da ISCI, “os mecanismos legais são totalmente inadequados porque não podem prevenir um genocídio, mesmo se houver sinais de alerta”.
“Enquanto não pararem de matar as pessoas e estuprar as mulheres não podem voltar”, conta, chorosa, a jovem Reduwna. Se retornar, nem sequer está claro que encontrará sua aldeia. As imagens de satélite analisadas pela Anistia Internacional indicam que os militares estão demolindo alguns povoados que já haviam danificado, reconstruindo infraestruturas e repovoando as áreas com birmaneses de outras etnias. Como se os rohingyas nunca tivessem existido.