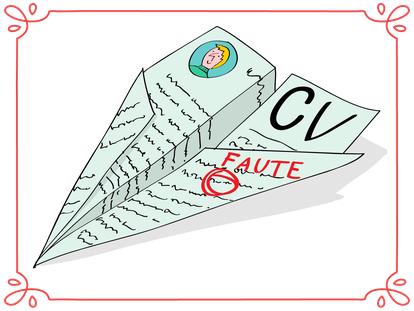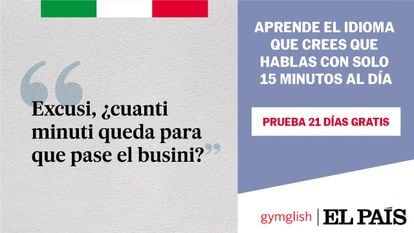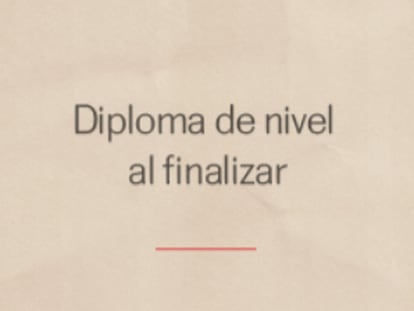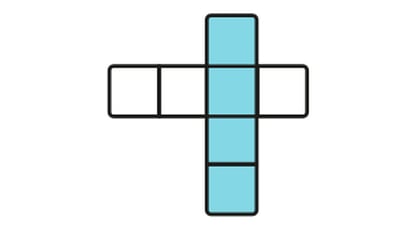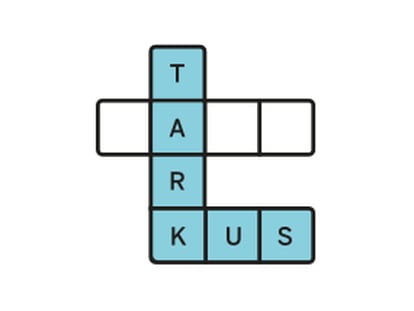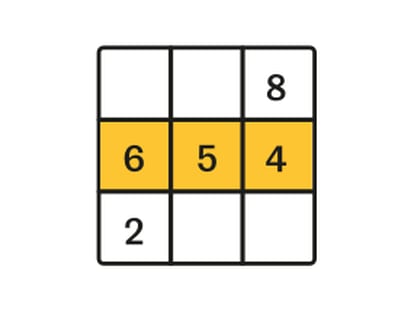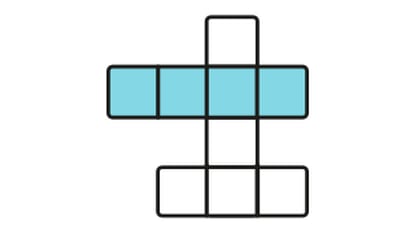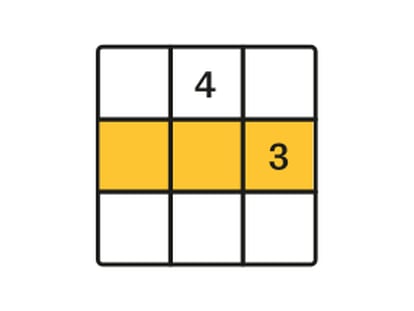O primeiro passo rumo ao retorno do mamute
Geneticista Carles Lalueza-Fox lembra em livro sua contribuição à 'reinvenção' de espécies desaparecidas

O mamute é, sem dúvida, o candidato paradigmático à des-extinção e do qual hoje possuímos a maior quantidade de informação genética e funcional. Entender os avanços no conhecimento de sua fisiologia e aspectos adaptativos nos ajudará a avaliar as dificuldades técnicas da possível des-extinção. Seu aspecto majestoso e seu grande tamanho (mediam cerca de quatro a cinco metros de altura e comprimento e pesavam de seis a oito toneladas) o transformaram no ícone dos animais da Era do Gelo. Por razões difíceis de se objetivar, costumamos ter uma conexão empática com eles, da mesma forma que temos com os elefantes atuais, no quais destacamos qualidades humanas, como a inteligência, o cuidado parental e a memória a longo prazo. Isso não ocorre om outros animais que, geralmente, nos parecem menos simpáticos.

Esse fascínio pelos mamutes não é atual; também a intuímos nos humanos que conviveram com eles – e que com toda a probabilidade contribuíram para sua extinção –. Encontramos representações suas em numerosas pinturas rupestres do Paleolítico superior, como Chauvet e Pech Merle. Na caverna de Rouffignac (Périgord Negro), por exemplo, existem mais de 150 representações de mamutes (o que constitui 70% de todos os animais lá pintados e 30% de todas as representações conhecidas na Europa). Também existem utensílios e figuras talhadas no marfim de suas presas. Talvez a evidência mais impressionante seja a chamada figura Löwenmensch, procedente da caverna alemã de Hohlenstein-Stadel e descoberta em 1939 (alguns fragmentos adicionais foram descobertos entre 1997 e 1998 e puderam ser encaixados na peça original). A figura, esculpida em uma presa de mamute e datada de 40.000 anos atrás, tem quase 30 centímetros de altura e é provavelmente o exemplo mais antigo de arte figurativa. Ao mesmo tempo, seu caráter claramente mágico lhe confere um ar misterioso: mostra o corpo de um homem com a cabeça de um leão das cavernas. Os mamutes não só proporcionavam o suporte físico e a substância imaginativa ao mundo espiritual dos humanos da Era do Gelo; estes também utilizaram seus restos, que incluíam ossos, presas e peles, como elementos construtivos, funerários e até como combustível.
Apesar das representações heroicas em museus e livros, não há provas de que existiram caçadas humanas de mamutes
É provável que os mamutes também contribuíram com sua carne para alimentar os caçadores paleolíticos, mas não está claro se os caçaram ativamente e como o faziam. Apesar das numerosas representações heroicas nesse sentido em diversos museus e livros, os especialistas não conhecem os detalhes precisos desse tipo de caçada. Ainda que a maioria não tenha problemas em admitir que caçadores experientes pudessem se camuflar entre a grama alta da estepe mamútica e aproximar-se desses enormes animais (os quais, como os elefantes atuais, provavelmente não tinham visão muito boa), o que pode ter ocorrido depois é motivo de controvérsia. Se os atacavam ativamente, com que armas o faziam? Não parece fácil que pudessem penetrar a enorme cobertura de pelagem e tecido gorduroso subcutâneo de um animal adulto com sua lanças de pontas líticas.
Na iconografia arqueológica frequentemente são representadas armadilhas no formato de grandes buracos onde os animais caíam e onde os humanos terminavam de os matar; mas nas condições frias da Europa Central e do Leste, onde o solo estaria permanentemente congelado, não seria viável escavar os tais buracos (ainda hoje nem mesmo uma potente escavadora poderia fazê-lo). Também não há nenhuma evidência firme de que pudessem emboscá-los e lançar uma grande pedra sobre suas cabeças de um penhasco. Os acúmulos de ossos em Cotte de Saint-Brélade, em uma escarpa da ilha de Jersey, foram interpretados como evidência de caça coletiva e de que fizeram os mamutes despencarem por ele para depois aproveitar a carne, mas uma reinterpretação recente da jazida parece sugerir que são exemplares não contemporâneos, mas levados para lá e acumulados ao longo de muitas gerações.
Reinventar o mundo

Esse texto faz parte do livro Des-extinções, publicado pela Tibidabo Ediciones em sua coleção Uma Imersão Rápida. No volume, o geneticista Carles Lalueza-Fox aborda o desafio de devolver a vida a espécies extintas, como o mamute. Apesar do recente desenvolvimento de um conjunto de técnicas de biologia molecular – entre elas a clonagem, a síntese de genomas artificiais e a edição genética – que permitiu o surgimento de um campo de pesquisa que persegue des-extinção, Lalueza-Fox defende que essas espécies nunca serão devolvidas à vida tal como eram. Por isso, afirma, é mais certo falar de "reinvenção", pois se trataria de quimeras genéticas com componentes de espécies atuais.
Em 2003, na jazida de Lugovskoe, na Sibéria, foi encontrada uma vértebra de mamute com uma ponta de lança musteriense cravada, o que indica que a caça por parte dos neandertais era uma realidade. Mas tudo parece indicar que deveria ser uma atividade oportunista e irregular e que deveria estar centrada em atacar animais isolados, doentes e filhotes. No período Magdaleniano, há cerca de 12.000 anos, ainda encontramos diversas representações de mamutes, como na caverna de Combarelles e na de Madeleine (ambas na Dordonha), mas depois deixam de ser representados. Seja como for, é evidente que o resultado final das interações entre humanos e mamutes foi a extinção desses proboscídeos.
Os antepassados dos mamutes saíram da África e se expandiram pela Eurásia há cerca de três milhões de anos; algumas populações da região da China e da Sibéria se adaptaram às condições frias da estepe e progressivamente suplantaram as formas anteriores [...]. As formas adaptadas às condições árticas tinham alguns traços característicos, como orelhas e cauda reduzidas – para conservar o calor corporal –, uma pelagem densa acompanhada de uma grossa camada de gordura subcutânea e numerosas glândulas sebáceas que ajudavam a repelir a água e melhorar o isolamento térmico. Há cerca de duzentos mil anos, o mamute havia colonizado o norte da Sibéria e se estendeu depois ao oeste da Europa, até chegar à Península Ibérica. Também se moveu ao leste, cruzou a Beríngia e penetrou no continente americano; dessa forma, ocupou a parte norte de três diferentes continentes.
As populações, entretanto, começaram a diminuir com a chegada do último máximo glacial, há 20.000 anos e nunca se recuperaram demograficamente. Sobraram algumas populações isoladas no norte da Sibéria e na ilha de Wrangel, onde os últimos mamutes, consideravelmente reduzidos em tamanho e diversidade genética, se extinguiram há somente 4.300 anos – ou seja, mais tarde do que a construção das pirâmides do Egito –.
Os mamutes se extinguiram há somente 4.300 anos, mais tarde do que a construção das pirâmides do Egito
Desde o início da disciplina do DNA antigo, no final do século passado, o mamute se transformou em um objetivo óbvio para os estudos de recuperação de material genético do passado. Existia uma pergunta científica clara que poderia de fato ser respondida com as limitadas possibilidades técnicas daquela época, que somente permitiam a recuperação artesanal de pequenos fragmentos de DNA mitocondrial: a relação filogenética entre os mamutes e os elefantes atuais (os africanos e os asiáticos).
Hoje em dia, com mais informação genética disponível, estima-se que entre sete e cinco milhões de anos atrás separam-se, inicialmente, os elefantes africanos e, em segundo lugar, os mamutes dos elefantes asiáticos, que seriam, portanto, seus parentes vivos mais próximos. Ainda que naquela época isso fosse entendido como um exercício puramente taxonômico, agora sabemos que se trata de uma informação fundamental para a des-extinção, que necessita do conhecimento preciso da espécie viva que é do ponto de vista genético mais semelhantes à que se pretende reinventar.
A diversidade genética dos mamutes
Os passos seguintes na exploração genética dos mamutes se focaram em outro objetivo que, sem sabê-lo à época, também é fundamental na des-extinção: o conhecimento da diversidade genética global da espécie. Diversos estudos, baseados no DNA mitocondrial [herdado unicamente das mães], determinaram a existência de três grandes clados de diversidade (um clado é uma agrupação que contém um antepassado comum e todos os descendentes – vivos e extintos – desse antepassado) ao longo da vasta classe de distribuição dos mamutes. Esses estudos culminaram em um trabalho, publicado no começo de 2017, em que participei, e em que foram recuperados os genomas mitocondriais completos de nada menos do que 143 mamutes, e que incluíam uma ampla região previamente desconhecida, a Europa (entre eles dois procedentes de Al Aldehuela, em Getafe, e escavados em 1968). O estudo confirmou a existência de três grandes grupos de linhagens mitocondriais, um no continente americano, outro no leste da Eurásia e Alasca e outro no oeste da Eurásia. Esse último se estendia da China e Sibéria à Alemanha, o Mar do Norte (de onde foram retirados vários exemplares) e estava presente até mesmo em dois exemplares descobertos em Madri e conservados no Museu das Origens.
A análise global de todas essas amostras confirmou que a forte estruturação geográfica do DNA mitocondrial não se correspondia com a atribuição morfológica das diferentes espécies de mamute e com os dados genômicos (para as amostras que estavam disponíveis). Novamente, isso confirmava o comportamento filopátrico das fêmeas e a dispersão dos machos, que, da mesma forma que os elefantes atuais, abandonavam o grupo em que haviam nascido ao chegar à maturidade sexual; assim, enquanto as linhagens mitocondriais tendiam a ficar estruturadas no espaço, as populações se uniformizavam a nível genômico graças a maior mobilidade dos machos. Isso incluía cruzamentos entre espécies, da mesma forma que foi descoberto anos atrás nos homininos. Em todo caso, o estudo assentava as bases para tentar englobar toda a diversidade dos mamutes; no caso de se pretender reinventá-los, seria necessário levar em consideração que eram mamíferos que ocupavam todo o hemisfério norte do planeta, e que sem dúvida teriam, além de mudanças genéticas fixas, outras que seriam exclusivas de cada região.
A pigmentação do mamute
O primeiro passo simbólico à compreensão das diferenças adaptativas do mamute ocorreu em 2006, em um estudo publicado na revista Science do qual participei. Meses antes, meu amigo Michael Hofreiter, um especialista em DNA antigo que à época trabalhava no Instituto Max Planck de Leipzig, enviou ao meu laboratório um fragmento de osso de mamute siberiano de 43.000 anos. Ele recuperou em 23 fragmentos solapados o gene MC1R completo. Esse gene tem um papel essencial na pigmentação do pelo nos mamíferos. Por exemplo, diversas mutações no MC1R humano determinam que existam indivíduos ruivos, porque essas mutações afetam o funcionamento da proteína resultante (também chamada MC1R) na membrana dos melanócitos e na forma que essa proteína interage com o hormônio MSH.
A interação correta entre o MC1R e o MSH desencadeia a síntese de um pigmento marrom-escuro (chamado eumelanina) e também contribui nos humanos à capacidade de sua pele de se bronzear ao tomar sol. Pelo contrário, uma interação disfuncional leva à síntese de um pigmento de cor amarelo avermelhado, chamado feomelanina, e, de maneira secundária, a uma diminuição da capacidade de ficar moreno. Esse pigmento é o que predomina nos indivíduos de cabelo arruivado, e com toda a probabilidade também estava presente em alguns neandertais, que apresentavam mutações parecidas (mas não idênticas) às que os atuais ruivos têm. Hofreiter analisou quatro ossos de mamute e encontrou em dois deles o que pareciam três mutações no gene MC1R. uma delas, especialmente, parecia ter um forte impacto na construção da proteína e, portanto, era possível presumir um papel funcional, mas de resultado prático desconhecido.
Existem poucos traços, como o da pigmentação do pelo, que dependem essencialmente de um único gene
Hofreiter me pediu se eu poderia replicar os resultados de maneira independente em meu laboratório e assim o fiz, após algumas semanas de trabalho no laboratório (à época, essa era a forma mais segura de confirmar resultados surpreendentes). E além disso pudemos descobrir que as três mutações estavam presentes em uma cópia do cromossomo, mas não na outra (o que se conhece como heterozigose na linguagem genética). Se as mutações agiam como as dos humanos ruivos, era necessário que estivessem presentes em ambas as cópias para que impactassem nos traços externos; ou seja, na cor da pelagem dos animais. Mas uma vez que tais mutações existiam na população, isso não era um problema; o cruzamento de dois mamutes heterozigóticos como os dois que havíamos encontrado proporcionariam em 25% dos casos indivíduos com as duas cópias das mutações. Ou seja, precisariam ter existido. Mas o que aconteceria exatamente com esses indivíduos?
Até aquele momento, todos os trabalhos de paleogenética haviam tentado entender o nível de sequência, mas nenhum tentou ir além. Isso se devia a uma combinação desfavorável de dois fatores: em primeiro lugar, poucos estudos haviam conseguido recuperar com sucesso um gene nuclear, e em segundo lugar, o papel da herança na maioria dos traços externos é muito complexo e depende de numerosos genes. Existem poucos traços, como o da pigmentação do pelo, que dependem essencialmente de um único gene. Nós tentamos ir além e explorar o significado palpável do que havíamos descoberto. Para isso realizamos o primeiro estudo de paleogenômica funcional.
“Não sabíamos, mas havíamos inaugurado o caminho conceitual rumo à reversão da extinção mediante a manipulação de genes informativos”
O que fizemos foi insertar as duas versões do gene MC1R de mamute (com e sem as mutações encontradas) em células pigmentárias que estavam em placas de cultivo. Ao incorporar o gene expressaram em suas membranas a proteína do mamute e depois as fizemos interagir in vitro com o hormônio MSH, e pudemos medir no laboratório o resultado da interação. Encontramos que o haplótipo mamútico com as três mutações apresentava uma queda de 65% na capacidade de interação entre o MC1R e o MSH (a maior proporção do fenômeno se devia a uma única mutação, a terceira, que mudava um aminoácido, a arginina, por outro, a cisteína, na posição 67. O resultado da queda era a síntese da feomelanina em vez de eumelanina. Isso nos indicava, portanto, que devem ter existido mamutes tanto de pelagem clara e avermelhada, como de cor marrom escuro. Não sabíamos, evidentemente, se esse traço tinha algum papel adaptativo e, portanto, se era importante para entender os mamutes, e também não sabíamos sua frequência porque só havíamos analisado quatro exemplares. Existem numerosos mamíferos cujas espécies e formas em climas árticos apresentam uma pigmentação diferente (mais clara e até branca). Mas normalmente se trata de uma questão de camuflagem contra o fundo nevado e não parecia que os mamutes pudessem ter a necessidade de passar desapercebidos (nem maneira de fazê-lo).
Em todo caso, nosso estudo deixou assentadas as bases para se começar a pensar que os traços externos dos mamutes, e em geral das espécies extintas, poderiam ser pesquisados através dos genes e que conhecer uns era compreender os outros. Não o sabíamos, mas havíamos inaugurado o caminho conceitual à des-extinção pela manipulação de genes informativos. É evidente, além disso, que a pigmentação é um dos traços fundamentais na conformação de uma espécie, e que qualquer estudo futuro deve tê-la como prioritária se houver a pretensão de que a espécie des-extinta, seja ela qual for, tenha o aspecto correto.