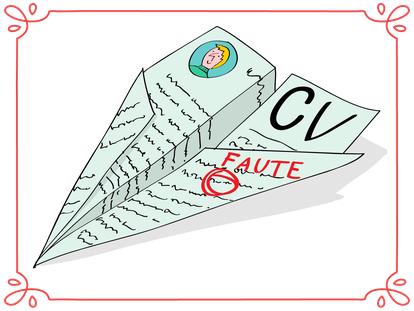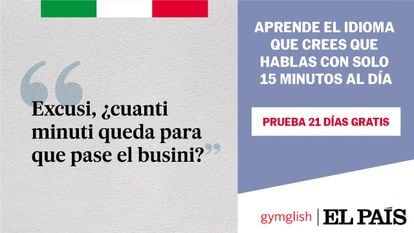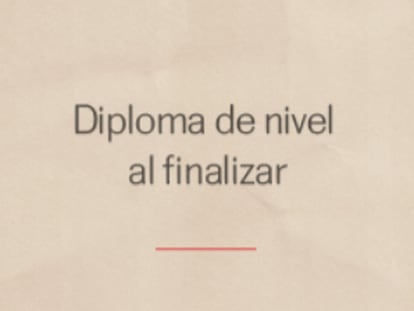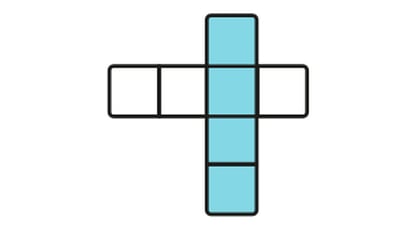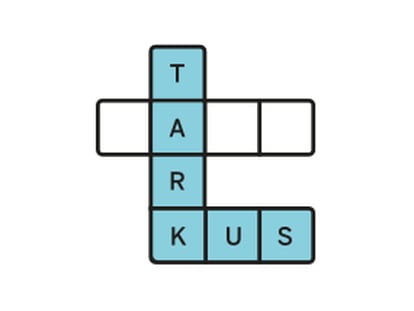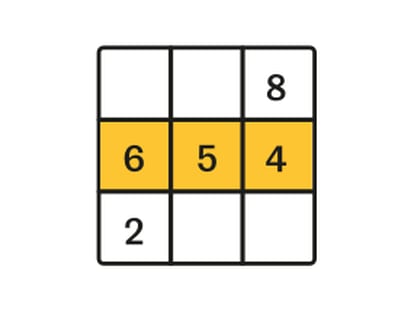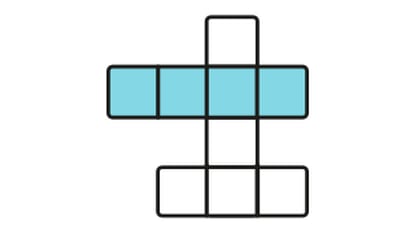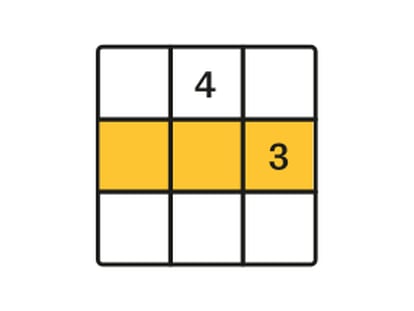O país dos calados
Só o livro 'Pátria', de Fernando Aramburu, me fez viver, de dentro, os anos de sangue e horror que a Espanha sofreu com o terrorismo do ETA

Devo ter lido dezenas de artigos sobre o ETA e muitos ensaios, mas apenas Pátria (Tusquets Editores), o romance de Fernando Aramburu, me fez viver, de dentro, não como testemunha distante, mas como um assassino e uma vítima a mais, os anos de sangue e horror que a Espanha sofreu com o terrorismo do ETA. O romance nos seduz, nos suborna com sua magia verbal e suas astutas alterações da cronologia e dos pontos de vista, até nos convencer de que aquela história não está escrita, que é a vida pura e simples, e que estamos mergulhados nela vivendo-a junto com os personagens. Fazia tempo que não lia um livro tão convincente e comovente, concebido com tanta inteligência, uma ficção que é ao mesmo tempo um testemunho tão eloquente sobre uma realidade histórica como foram, em suas respectivas épocas, o romance de Joseph Conrad The Secret Agent (O Agente Secreto), sobre os anarquistas londrinos do século XIX, e La Condition Humaine (A Condição Humana), de André Malraux, sobre a revolução chinesa.
A ação transcorre num povoado sem nome, perto de San Sebastián, onde duas famílias, até então muito ligadas, vão se tornando inimigas, transformando a amizade em ódio, por causa da política. Ou melhor, da violência disfarçada de política. No início, se diria que todos os moradores fazem causa comum com a subversão; isso indicariam as pichações, os cartazes, as manifestações diante da prefeitura pedindo a libertação dos prisioneiros, o imposto revolucionário pago pelos ricos a Patxo, o dono da taverna, discreto dirigente político do ETA, os insultos e o asco que inspiram os desprezíveis “espanholistas”. Mas, à medida que nos aproximamos da vida íntima das famílias, e as ouvimos falar em voz baixa, sem testemunhas, compreendemos que a grande maioria dos moradores disfarça seus sentimentos porque tem medo, um pânico que os acompanha como uma sombra. Não é gratuito, porque o grupinho dos que acreditam, os convencidos, são temíveis máquinas de matar, implacáveis quando fazem represálias, e lá estão como prova irrefutável os cadáveres que de quando em quando aparecem nas ruas. Que o diga Txato, um empresário perseverante e boa gente que, além da sua família, adora jogar mus [um baralho de naipes] e fazer passeios dominicais na sua bicicleta. O ETA lhe pede cada vez mais dinheiro, e ele entrega, para tocar a vida em paz, mas as exigências são cada vez maiores e, depois de certo limite, ele deixa de pagar. Então, todas as paredes do lugar se enchem de inscrições chamando-o de traidor, vendido, covarde e miserável. As pessoas param de cumprimentá-lo; o repugnante pároco, Don Serapio, o aconselha a ir embora. Até que numa tarde chuvosa lhe dão cinco tiros pelas costas.
Sua viúva, Bittori, irá ao cemitério para conversar com seu cadáver ao longo dos anos, para contar as vicissitudes de sua despedaçada família e sua angustiante dúvida sobre o membro do ETA que o matou: seria Joxe Mari, o filho de sua ex-amiga íntima Miren, que quando era menino o pobre Txato ensinou a andar de bicicleta e a quem costumava comprar chocolates? Joxe Mari, personagem estremecedor, rapaz forte, inculto e um tanto rude, se torna terrorista não por razões ideológicas – sua informação política não vai além de acreditar que a Espanha explora Euskal Herria e que só a luta armada conseguirá a independência –, mas por amor ao risco e um confuso fascínio pelos violentos. Acompanhamos bem de perto sua educação como terrorista, na clandestinidade da Bretanha, seu tédio com a teoria e sua excitação com a prática em que lhe ensinam a fazer bombas, preparar emboscadas e matar com rapidez. Estamos com ele, dentro dele, quando comete seu primeiro assassinato, quando a polícia o captura e é torturado, e durante os longos, lentos anos de uma prisão da qual, talvez, nunca sairá vivo.
As pessoas de Pátria não são heróis epônimos nem grandes vilões, mas seres comuns, alguns deles pobres diabos, que não teriam o menor interesse em outras circunstâncias. Os mais interessantes não o são por possuírem alguma virtude excepcional, mas pela ferocidade com que se abate sobre eles a violência física e moral, condenando-os a rotinas feitas de hipocrisia e silêncio “neste país dos calados”, e pela estoica resignação com a qual suportam sua sorte, sem se rebelar, submetendo-se a ela como se fosse um terremoto ou um ciclone, ou seja, uma tragédia natural inevitável.
O livro seduz até nos convencer de que aquela história não está escrita, é a vida pura e simples
A atmosfera em que discorrem essas vidas é um dos grandes feitos do romance: pesada, angustiante, repetitiva. O tempo quase não avança, às vezes se detém. Esse efeito é obtido por uma estrutura narrativa audaciosa, feita de pequenos episódios que não se sucedem cronologicamente, mas aos saltos, para trás e para frente, violando a sequência temporal, distantes ou próximos para estabelecer entre eles um contraponto esclarecedor, uma cronologia em que muitas vezes as consequências precedem as causas, e passado e futuro se entrelaçam até se transformarem num presente que funde o que aconteceu com o que acontecerá depois. O leitor não se perde nesses saltos temporais; pelo contrário, é impregnado por essa eternidade instantânea – o elemento adicionado – em que parecem ocorrer as peripécias da história.
O romance foi escrito numa linguagem em que o narrador e os personagens se afastam ou se fundem, um ponto de vista sutil e complexo em que essas mudanças se sucedem de maneira imperceptível, confundindo o objetivo e o subjetivo, o mundo dos fatos e o das emoções e fantasias, as coisas que realmente acontecem e as reações que provocam nas mentes. O romance constrói assim uma totalidade autossuficiente, a máxima façanha de um romancista.
Trata-se de uma sutil descrição da degradação moral que a violência provoca
O livro, uma história tão infeliz quanto cativante, é também uma clara tomada de posição, uma rotunda condenação da violência, dos fanatismos e das ignorâncias que a suscitam. E uma descrição muito sutil da degradação moral que ela provoca numa sociedade, corroendo seus valores, criando inimizades e aviltando as pessoas, destruindo as instituições e as relações humanas. Mas evita, com bom senso, as dissertações ideológicas, limitando-se a mostrar, por meio de episódios breves e sempre sedutores, como, sem querer ou saber, toda uma sociedade de pessoas saudáveis, sem mistério, vai sendo arrastada pouco a pouco, concessão após concessão, à cumplicidade e – às vezes – às piores vilanias.
Quando Pátria termina, o ETA já renunciou à luta armada e decidiu atuar apenas no campo político. É um progresso, sem dúvida. Mas vislumbra-se alguma solução para o problema de fundo, o condenado nacionalismo? O livro acaba sendo mais pessimista do que o autor gostaria. Na página final, as duas ex-amigas, Miren, a mãe do terrorista, e Bittori, a mãe do assassinado, se abraçam, reconciliadas. É o único episódio deste belo romance que não me pareceu ser a própria vida, mas uma pura ficção.
Direitos mundiais de imprensa em todas as línguas reservados a Edições EL PAÍS, SL, 2017.
© Mario Vargas Llosa, 2017.