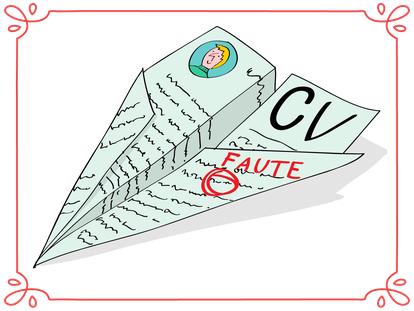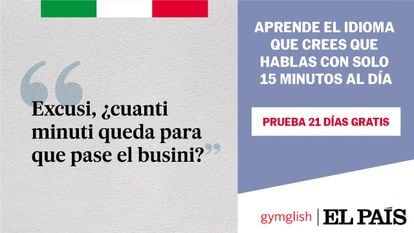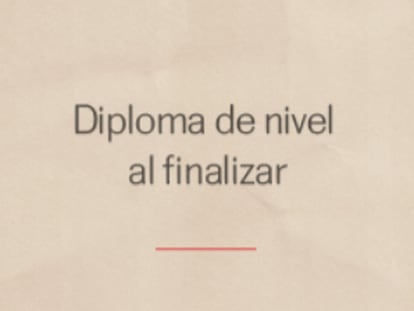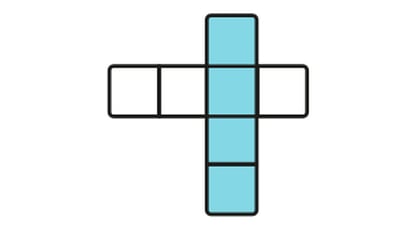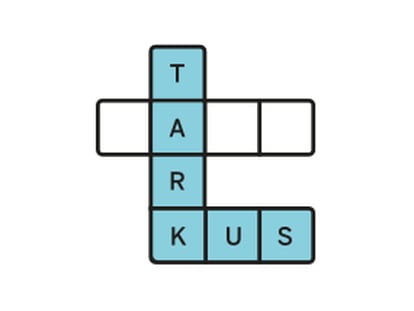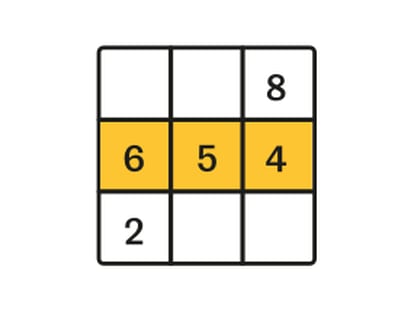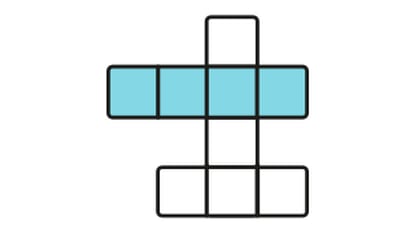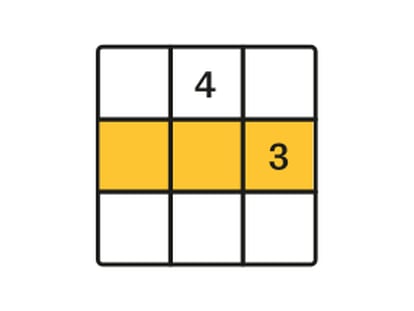A arte que forjou a identidade afroamericana
Uma exposição em Paris analisa o papel que pintura, fotografia e cinema desempenharam no combate por seus direitos dos descendentes de escravos

Qual foi o papel da arte na batalha que os descendentes de escravos travaram nos tempos da Estados Unidos? Uma exposição no Museu do Quai Branly de Paris, especializado em arte primitiva e antropologia, se esforça para responder com esmero a essa pergunta. A mostra analisa a importância que disciplinas como a pintura, a escultura, a fotografia e o cinema tiveram na luta por reafirmar uma identidade afro-americana. O nome da exposição é The Color Line, em referência à famosa expressão sobre a segregação inventada pelo líder negro Frederick Douglass em 1881. Duas décadas mais tarde, outro pioneiro na luta pela emancipação, W. E. B. Du Bois, formulou esse prognóstico: “O problema da linha da cor será o problema do século XX”. A exposição demonstra que ele não errou.

Na entrada da mostra está a bandeira norte-americana. Lá estão as estrelas e listras, mesmo que as cores não sejam as mesmas de costume. O valorizado artista David Hammons as pintou com os tons do pan-africanismo – vermelho, negro e verde –, que durante os anos sessenta foram um símbolo da luta pela emancipação. Algumas salas adiante aparecem postais que, no começo do século passado, serviam para mostrar os linchamentos de negros nos Estados sulistas. Um deles reproduz o corpo carbonizado de William Stanley, queimado vivo no Texas de 1915. No verso, um remetente chamado Joe relata a cena aos seus pais: “Esse é churrasco que fizemos ontem à noite”.
A mostra oscila entre esses dois extremos para demonstrar que a arte afro-americana nasceu como reação aos ataques racistas. Através de 600 pinturas, esculturas, fotografias, cartazes, fragmentos de filmes e outros documentos, a exposição percorre o período que começa com o final da Guerra de Secessão, em 1865, e termina com a aprovação, um século depois, da lei de direitos civis de 1964, que acabou com a segregação que proibia que brancos e negros ficassem juntos em escolas e hospitais, nas fileiras do Exército e até mesmo nas calçadas de qualquer cidade. A mostra assinala que esses avanços nem sempre tiveram o resultado esperado. “A história dos afro-americanos é uma longa sucessão de desilusões. Ao final da guerra, a proibição da escravidão não trouxe mais igualdade, mas uma segregação escorada em leis que deixaram os negros em uma posição subalterna durante décadas”, explica o curador da mostra, Daniel Soutif.
No início da exposição, aparece uma obra de David Drake, um escravo e oleiro da Carolina do Sul, considerado por muitos o primeiro artista afro-americano: fabricava vasilhas nas quais escrevia pequenos poemas. Perto delas estão penduradas as numerosas caricaturas de um tempo em que a cultura popular funcionou como um reflexo da supremacia branca, mas também como um instrumento para consolidá-la. Por exemplo, os minstrels eram espetáculos protagonizados por negros de largo sorriso que tocavam banjo e roubavam melancias, interpretados por brancos maquiados como negros – a famosa blackface, comum até os anos sessenta do século passado – que encarnavam personagens arquetípicos como Jim Crow (o jovem vagabundo), Mammie (a criada simplória) e Wench (a escrava tentadora). Os artistas afro-americanos se opuseram a essa quantidade de estereótipos racistas e propuseram uma representação mais fidedigna de sua comunidade. The Octoroon Girl, uma delicada tela assinada por Archibald Motley, em 1925, é uma prova de que um simples retrato feminino, de traços realistas e até desejáveis, pode ser uma verdadeira arma política.

A mostra passa pelo chamado Renascimento do Harlem, período de efervescência cultural no bairro nova-iorquino que se transformaria em um território mítico no imaginário afro-americano. O local concentrou homens e mulheres negros vindos de todo o país, incluindo os filhos de escravos, que fugiam dos linchamentos e conviveram com a elite intelectual afro-americana. Escritores como Langston Hughes, Richard Wright e Zora Neale Hurston se encontraram com pintores como Aaron Douglas e Malvin Gray Johnson —que influenciaram figuras mais tardias, como Jacob Lawrence e Romare Bearden –, enquanto o jazz ecoava nos palcos do Apollo Theatre e do Cotton Club. Como observa a exposição, a música afro-americana proporcionou, como também faria o esporte, uma série de heróis facilmente assimiláveis pela América branca, que às vezes dissimulavam a brutal discriminação que continuava imperando na vida cotidiana.
A hora do reconhecimento
A exposição no Quai Branly examina os mais importantes autores afro-americanos na arte contemporânea, começando pelo mais conhecido, Jean-Michel Basquiat. Nas últimas salas, se encontram criadores como Ellen Gallagher e Mickalene Thomas questionando sobre a representação da mulher negra na tela. Ao seu lado, está pendurado um monumental quadro de Kerry James Marshall, que esteve até o final de outubro em uma mostra no Metropolitan de Nova York, o mesmo museu que despertou protestos, em 1968, por não incluir nenhum negro em uma exposição dedicada à cena do Harlem. Os tempos mudaram: nesse mesmo museu, um dos óleos do grande pintor Aaron Douglas, presente na mostra parisiense, abriu o espaço da exposição Reimaginar o Modernismo, em 2015.
A mostra vem em um momento de reconhecimento dos artistas negros, tantos nas instituições como no mercado da arte. O MoMA nova-iorquino contratou em 2014 um conservador encarregado de completar sua coleção de arte afro-americana e adquiriu a obra do pintor Norman Lewis, desprezado durante décadas. O novo Whitney reabriu em 2015 prestando homenagem a Archibald Motley, outra figura quase invisível. Além disso, acaba de ser inaugurado o Museu Nacional de Arte e Cultura Afro-americana em Washington, que pretende preencher os espaços vazios na história da arte dos últimos dois séculos.
Toda a arte afro-americana responde ao mesmo tipo de compromisso? Hank Willis Thomas, incluído na mostra com uma obra de cunho político – a escultura Amandla, o punho negro de um combatente alçado no ar, atravessando o que parece ser a porta de uma cela –, não está totalmente de acordo. "Não acredito que, como grupo, trabalhamos de forma segregada. Não acredito que meu trabalho seja militante. A maioria das minhas obras tenta demonstrar que temos mais em comum do que o que nos separa. Todos lutamos pelo mesmo objetivo: mais humanidade", afirma Willis, para quem "Richard Duncanson e Norman Lewis não são mais políticos do que Claude Monet e Marcel Duchamp".
Toda a arte afroamericana responde ao mesmo tipo de compromisso? Hank Willis Thomas, incluído na amostra com uma obra de aspecto político —a escultura Amandla, ou o punho negro de um combatente alçado no ar, atravessando o que parece ser a porta de uma cela—, não está do tudo de acordo. "Não acho que, como grupo, trabalhemos de maneira segregada. Não acho que meu trabalho seja militante. A maioria de minhas obras trata de demonstrar que temos mais em comum que o que nos separa. Todos lutamos pelo mesmo: uma maior humanidade", afirma Willis, para quem "Richard Duncanson ou Norman Lewis não são mais políticos que Claude Monet ou Marcel Duchamp".