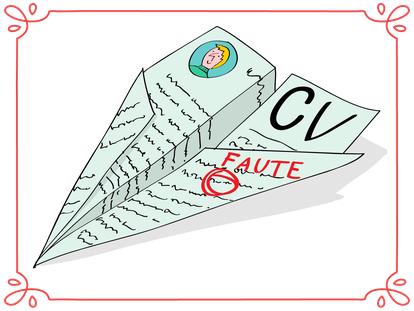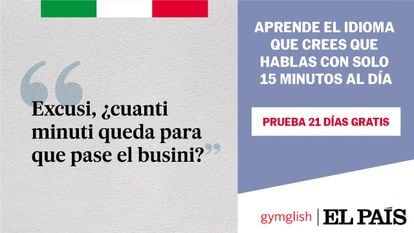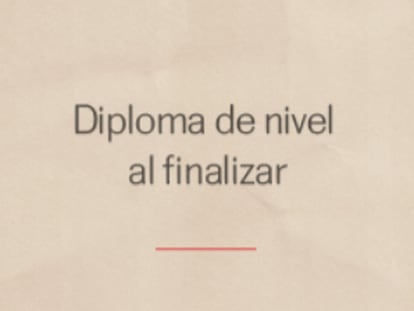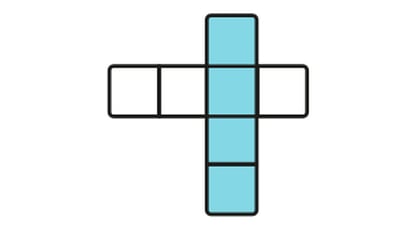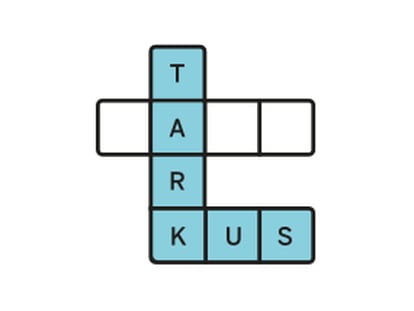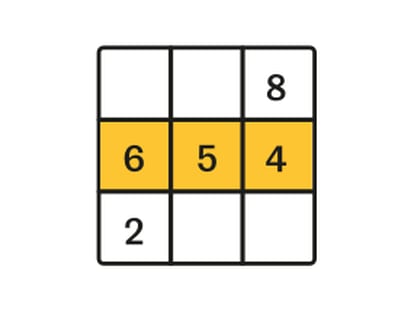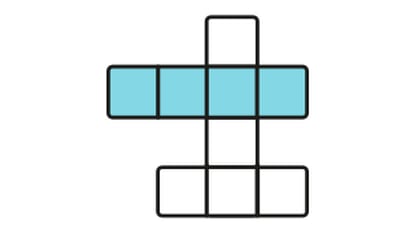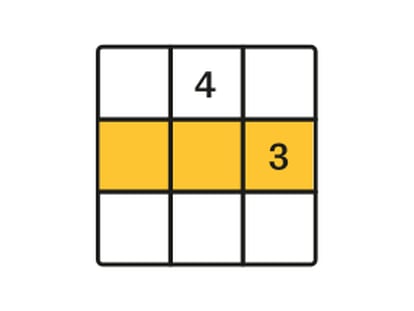A rebelião pela água, a rebelião do cansaço
Vinte anos depois de ganhar a batalha pela democracia, os antigos guetos herdados do ‘apartheid’ na atual África do Sul lutam para que grande parte de sua população deixe de viver na mais absoluta precariedade

Os 27 graus centígrados do meio-dia se multiplicam no interior da pequena casa de lata, impregnada de uma mistura de cheiro de desinfetante e do combustível que a família usa para cozinhar. A moradia não tem água corrente nem eletricidade, por isso está cheia de baldes e velas.
Estamos em Sebokeng, mas a cena é comum nos antigos guetos herdados do apartheid na atual África do Sul, que 20 anos depois de vencer a batalha pela democracia continua em luta para que uma parte considerável de sua população deixe de viver na mais absoluta situação de precariedade. Somente na província sulista de Western Cape (que tem a Cidade do Cabo como capital), a cada ano morre uma centena de pessoas que vivem em palhoças e barracos por causa de incêndios provocados pelo combustível usado na cozinha ou uma vela mal apagada.
As últimas vítimas dessa tragédia são cinco membros de uma família da Cidade do Cabo que morreram carbonizados em fevereiro em meio à impotência dos vizinhos que não conseguiram socorrê-los.
“Nossos pais lutaram pelas liberdades, agora, nós, para ter serviços decentes, mas a luta é a mesma”, resume Themba Zuane Dlamani, de 40 anos e moradora de Kliptown, outro desses bairros integrado à gigante Soweto, a 20 quilômetros da capital econômica do país.
Dos 52 milhões de habitantes, 13% continuam vivendo mal nos guetos
Nas duas décadas de democracia, segundo dados divulgados pelo presidente Jacob Zuma, em seu discurso do Estado da Nação, 500 guetos de barracos desapareceram para se transformaram em bairros de casas modestas, mas com os serviços básicos de água e luz. No entanto, o próprio Executivo reconhece que a migração interna empurra centenas de milhares de sul-africanos para fora de suas aldeias rurais, com destino às cidades, incapazes de absorver tanta demanda. Esse movimento faz com que exista hoje o mesmo número de barracos de há duas décadas. Assim, aproximadamente 13% de um total de 52 milhões de habitantes continua vivendo mal em bairros como o de Sekoneng.
Elias Sithole, 48 anos, mata como pode as horas nessa casa de Sebokeng, um gueto que na língua soto significa “lugar de encontro”, no qual vivem umas 200.000 pessoas distribuídas por bairros desconectados entre si. Há partes com casas reformadas e dotadas de serviços, embora em todo esse território não existam ruas asfaltadas e os postes da iluminação pública sejam mais do que escassos.
“Ir beber uma cerveja? Adoro os shebeens (bares), mas não tenho dinheiro para tomar nada”, admite esse homem que não trabalha há dois anos e sobrevive com os seis euros diários (19 reais) que sua mulher ganha nos três dias em que vai limpar casas na cidade. Pouca coisa.
Sithole participou ativamente dos protestos organizados em seu paupérrimo bairro para reivindicar melhorias nos serviços. Como sua vizinha Annah Seholaro, que está há uma década e meia sem emprego. Entre setembro de 2013 e janeiro de 2014, estima-se que 1 milhão de moradores em guetos da África do Sul participaram de mais de 3.000 manifestações, algumas das quais terminaram com repressão policial que deixou ao menos uma dezena de mortos. De norte a sul e de leste a oeste, as townships (a denominação local dada aos guetos) vão sendo contagiadas por esse mal-estar e cansaço e, como se fossem fagulhas, as manifestações se espalham.
Além do mais, a ira dos manifestantes se traduz, paradoxalmente, em ataque ou incêndio nos escassos serviços públicos de que dispõem, e que reivindicam, como uma clínica, biblioteca ou a delegacia de um povoado.
Em Kliptown, onde em janeiro também houve protestos de rua, há certo desgosto com esses ataques, e o jovem Shipo Dladla alerta que, embora os de sua geração “já” estejam fartos de falsas promessas, devem “aprender a lutar e a reivindicar seus direitos sem se voltarem com o que se conseguiu até agora”.
A imprensa local as batizou de protestos de prestação de serviços e os articulistas e os manifestantes tentam entender se se trata somente de uma petição por melhorias no fornecimento de água, eletricidade e moradias ou, na realidade, são uma evidência do mal-estar da qualidade da democracia do país e, talvez, da tremenda desigualdade social que a cada ano que passa aumenta, segundo revelam os dados.
Sithole e Seholaro têm clareza sobre por que saem às ruas. “Estamos fartos de esperar que o Governo cumpra as promessas de que melhorará nossas condições”, diz o homem, que confessa que seu longo período sem trabalho está prejudicando a relação do casal.
Mais de 1 milhão de pessoas participaram de 3.000 protestos entre 2013 e 2014
Como um contrassenso, a poucos metros de seu barraco se ergue uma enorme torre elétrica que transporta eletricidade sem distribuí-la na área, condenando assim esta região à chama da vela. “Seria fácil ter eletricidade com essa torre aqui, assim dissemos à Prefeitura, mas nem fizeram caso”, diz, enquanto olha para o monstro de ferro que fere um bairro onde o marrom da terra das ruas se mistura com o verde de plantas silvestres e árvores frutíferas que os moradores plantam para consumo próprio. De vez em quando, também aparece uma horta com quatro abóboras ou cebolas mal arranjados que tentam crescem entre tanta secura.
Seholaro chegou ao bairro há uma década ,atraída “pela promessa do Governo” de que em Sebokeng em breve seriam distribuídas casas novas. Agora, com 49 anos, vive com um filho de 32 em um barraco de latão sem nenhum serviço público. Nenhum dos dois trabalha e não recebem mais ajuda além dos poucos rands (moeda sul-africana) que os parentes lhes podem ir dando. E também é pouca coisa.
Ao meio-dia Seholaro está lavando a roupa à sombra de uma espécie de alpendre multicolorido por causa da variedade cromática das chapas que formam seu barraco. Para cozinhar, beber, lavar e se limpar ela tem primeiro que ir buscar a água em uma torneira comunitária a uma centena de metros de distância. Está acostumada porque nunca teve uma torneira em casa.
Seholaro faz uma careta diante das estatísticas oficiais que estimam que na África do Sul quase 2 de cada 10 habitantes precisam ir buscar água em fontes comunitárias ou poços, enquanto outros 9% simplesmente não têm acesso.
Na casa de Sithole todos os dias são consumidos uns 20 litros de água. No total, todos os dias carregam quatro grandes baldes de plástico. A cifra se multiplica nos barracos que a grande família de Maria Mokoena ocupa.
Os Mokoenas passaram por todos os trâmites para solicitar uma nova casa em 2006. Desde então, esperam. “Em resposta nos dão mais promessas, por isso a violência e a luta é a única solução já que pedimos as melhorias milhares de vezes, e nada”, lamenta.
Maria tem 33 anos e quatro filhos, de 12, 10 e 5 anos que vão à escola gratuita do povoado, e o pequeno Chris, de quatro meses, que ficará em casa até os 3 anos para evitar um gasto maior com a matrícula.
Os quatro são fruto da relação com o companheiro, com quem não pensa em casar-se, diz, rindo. A família sobrevive com o parco salário do homem construindo estradas e os benefícios sociais de 20 euros (63 reais) por criança por mês. Descontados o transporte público para ir ao trabalho, a roupa, a comida e o combustível usado para cozinhar, quase nada sobra da renda da família. A jovem mãe acorda no tempo exato para preparar os filhos maiores para que cheguem limpos à escola. “Não lhes dou o desjejum porque recebem grátis na escola. À noite jantamos todos juntos”, afirma.
A cozinha, como a maioria no povoado, usa a parafina como combustível. Um litro,12 rands, pelo câmbio de 80 centavos de euro (2,5 reais),que dá para pouco mais que preparar o jantar e esquentar um pouco de água para o banho dos menores. A casa gasta por dia 1,5 litro. Na África do Sul, 18% da população não tem instalações elétricas, por isso é preciso optar por alternativas como a parafina (quase 8% das cozinhas) e lenha (13%), segundo revela estatística oficial de 2011.
É surpreendente ver no barraco uma televisão de plasma. Maria diz, sentada na cama, que se dão um pequeno luxo, de ligar um gerador elétrico para ver algumas das séries sul-africanas mais populares. Não mais que uma hora por dia porque o combustível usado pela máquina custa quase 1 euro por litro (3,15 reais), o necessário para produzir uma hora de eletricidade.
Através da janela se vê Martha Mokoena, a avó de Maria, que, sentada em uma cadeira, aproveita uma pequena sombra para se refrescar no calor seco do verão. Tem 74 anos e só fala soto e africâner, por isso sua neta traduz suas palavras. Também não tem luz nem água, e como vive com o filho e três netos, eles lhe buscam a água e a lenha para acender o fogo da cozinha. Apesar de tudo, a mulher garante que hoje vive “muito melhor na África do Sul do que com o apartheid”.
As estatísticas em parte lhe dão razão, embora na África do Sul atual o fosso que separa a riqueza da miséria seja maior que durante o regime de supremacia racial dos brancos. Mais da metade dos sul-africanos é pobre, enquanto que a poucos quilômetros de distância desses paupérrimos bairros uma classe média alta, que se calcula represente 15%, resida em casas com jardim e piscina e conduza veículos de grande potência.
Hoje o fosso que separa a riqueza da miséria é ainda maior do que durante o regime supremacista branco
Zuma apresentou em seu discurso dados que, a seu ver, deixam entrever que, embora aos poucos, a política do Governo avança em boa direção. Ele deu como exemplo o fato de que cada vez há mais sul-africanos que recebem benefícios sociais. O problema é que hoje o total de subsídios supera em 1 milhão o de trabalhadores ativos. Em cifras, 16 milhões versus 15 milhões, e com uma economia freada pela recessão global, que passou de um crescimento médio de 3,5% nas duas últimas décadas para fechar 2013 com apenas 1,8%, e uma inflação que levou o custo da cesta básica a subir acima dos 5%.
Um estudo recente da Universidade de Johanesburgo alerta que os moradores nos guetos começam suas reivindicações de modo pacífico, tentando dialogar com os representantes municipais, mas ao ver que ninguém lhes dá atenção partem para um protesto violento. “É uma rebelião dos pobres” se arrisca a qualificar Peter Alexander, professor de Psicologia e coautor do informe. O especialista afirma que as disputas nessas manifestações também se relacionam com o contexto internacional das primaveras árabes e os movimentos extrapolíticos que ousam reivindicar ocupando as ruas. De qualquer modo, Alexander e seus colegas garantem que “não há solução em curto prazo” e que é cedo demais para dizer se essas manifestações dos guetos se generalizarão como, por exemplo, ocorreu na Turquia e no Egito. Como resumiu recentemente um analista político, “acabou a lua de mel” da África do Sul sonhada por Nelson Mandela.