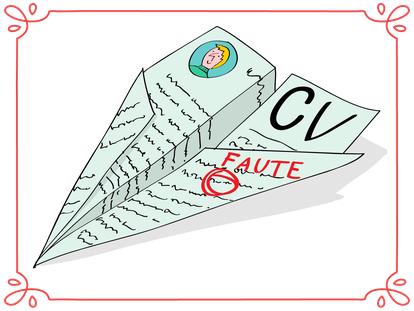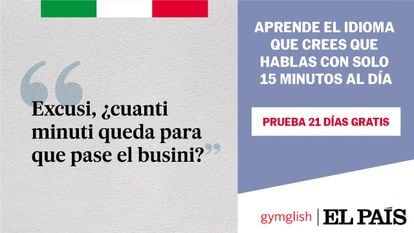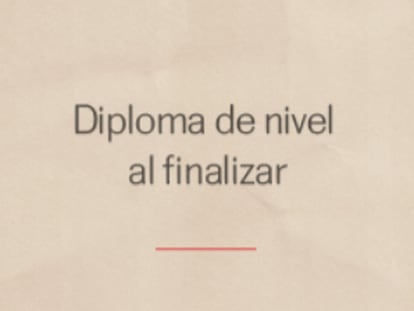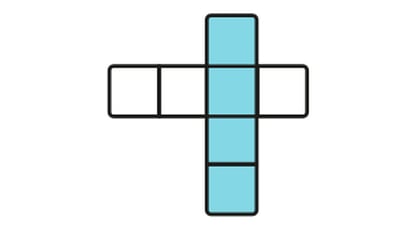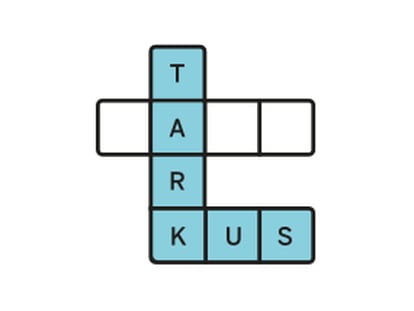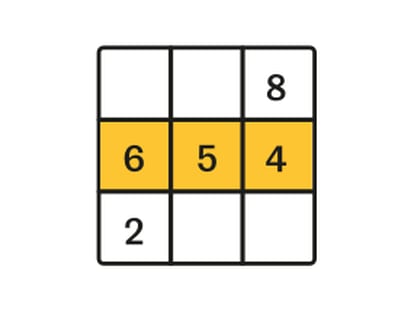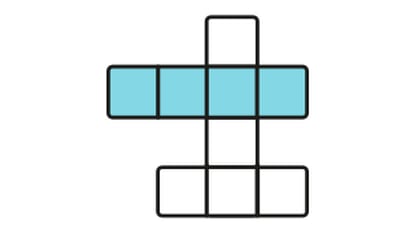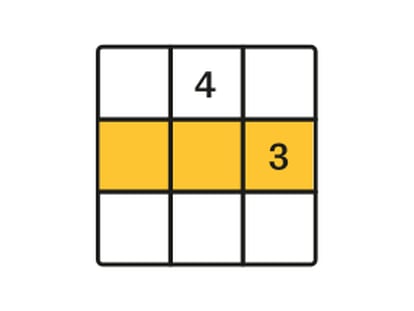“O Brasil deve pensar em como crescer mais rápido para tirar a China da equação”
Susan Segal afirma também ao El PAÍS que é um desafio encontrar a expansão que faça sentido para o Brasil, antes de desembarcar no país para presidir o fórum do Conselho das Américas

Susan Segal tem uma agenda impossível. Antes de chegar ao Brasil para presidir na terça-feira o fórum do Conselho das Américas, passou por Chile, Cuba, Buenos Aires e Canadá. É preciso literalmente agarrá-la em pleno voo. Vendo seu perfil, é compreensível. Ela acumula quase quatro décadas de experiência nos países emergentes e é uma apaixonada defensora do potencial da América Latina, a ponto de que a Latinvex a considera a mulher mais poderosa na representação dos interesses de investidores estrangeiros que fazem negócios na região.
Segal, condecorada com a Ordem Bernardo O’Higgins no Chile, a de San Carlos na Colômbia e a Águia Asteca no México, está à frente da organização desde agosto de 2003. Trata-se de um fórum crucial para estabelecer conexões com o mundo dos negócios na América Latina, pois ele é integrado por algumas das mais importantes companhias do mundo. Ela acabava de criar seu próprio grupo de investimentos, focado na América Latina e no setor privado hispânico dos EUA. Anteriormente, havia comandado o grupo de América Latina no JPMorgan, onde definiu a estratégia de investimento do colosso financeiro norte-americano.
É considerada em Wall Street como uma das pioneiras do capital risco na América Latina, e reconhecida por seu papel ativo durante a gestão da crise da dívida que afetou os países da região na década de 1980 e começo da de 1990. Atualmente, é membro do Conselho de Relações Exteriores, um influente grupo de reflexão sobre a política internacional em Nova York. Agora, busca usar a Americas Society / Conselho das Américas como ferramenta para aplainar as relações comerciais entre os EUA e a região, por meio do diálogo sobre questões que afetam o subcontinente.
A revista de negócios Crains já a incluíra em 1992 na lista das pessoas mais influentes com menos de 40 anos. Sua vocação era ter sido historiadora da arte. Entretanto, optou pelas finanças quando os grandes bancos de Wall Street começaram a recrutar mulheres. Começou assim a construir sua carreira enfrentando problemas de reestruturação nos países mais atrasados. Mas durante muito tempo esteve sozinha em um setor dominado por homens, e por isso é muito sensível às questões de gênero.
Pergunta. A mudança deve ter sido considerável...
Resposta. Enorme, e em toda a região. A maioria dos países está muito melhor do que há três décadas. Nos anos 80, eles estavam no meio de uma crise de endividamento, falava-se de ajuste fiscal, não havia estabilidade econômica, havia desvalorizações cambiais. Os investidores se referem hoje a outras coisas. A discussão é sobre inclusão social, educação, serviços que a classe média demanda. São países que estão integrados no mundo, com acordos comerciais globais, e que têm acesso a enormes fontes de capital. Contam com um setor privado vibrante.
P. Costuma-se ver a região como um bloco. Mas é como se o continente estivesse dividido.
R. É verdade. De fato, quando penso na América Latina, e como acredito que os investidores devem ver, é em termos dos progressos em cada país individualmente. Há muitos países onde estão acontecendo coisas muito positivas quanto ao progresso econômico, além do México, Brasil e Argentina, como Colômbia, Peru e Chile.
P. Durante a última década, a região foi um motor do crescimento global. Agora se fala em turbulências nos emergentes. Atribui-se isso à retirada dos estímulos por parte do Federal Reserve (banco central dos EUA), mas também ao temor de um menor crescimento na China.
R. Passei quase toda a minha carreira trabalhando com os países emergentes. Sempre me guio por uma regra. Nada é tão bom quanto parece, nem tão ruim, salvo exceções. É o caso agora. Parte da volatilidade se deve à retirada de liquidez do Fed, e parte ao fato de que, à medida que a China modera seu crescimento, diminui sua demanda por matérias-primas. Mas também porque houve um excesso de entusiasmo dos investidores, que é o que, afinal de contas, move o mercado. Há dois tipos de investidores: os estratégicos, que olham em longo prazo, e os grandes fundos, que têm uma visão de curto [prazo].
P. Mas a dependência em relação à China cresceu muito.
R. Em alguns países mais do que outros. Mas acredito que essa situação precisa ser vista mais como uma oportunidade. Se um país sofrer de volatilidade agora é porque não diversificou suficientemente a sua economia, então o que deve fazer é pensar em reforçar outros setores. A economia se move por ciclos, e por isso eles devem ser aproveitados para desenvolver as economias de outra maneira. Isso só se torna negativo se não for dessa forma.
P. O Brasil é um desses países. A conferência de São Paulo ocorre a seis meses da eleição presidencial. Como vê a situação?
R. Penso que [o Brasil] não é capaz de crescer como poderia, 5% ou 6%. Com sorte poderia chegar agora aos 3%, embora eu ache que está mais no patamar de 2,5%. O Brasil está tendo muita sorte. Tem uma economia enorme, mais de 40 milhões de cidadãos se somaram à classe média, que demanda bens e serviços, e uma base industrial muito sólida. E, mesmo com uma taxa lenta de crescimento, sua economia avança numa situação próxima ao pleno emprego. Os salários estão mais ou menos estáveis, embora sem crescer tanto como em anos anteriores. O que o Brasil deve fazer é pensar no que precisa fazer para crescer mais rápido e poder tirar a China da equação. É um desafio encontrar o crescimento que faça sentido para o país, e isso ao mesmo tempo em que você obtém o investimento necessário para alimentar a demanda dessa crescente classe média.
P. A estabilidade social também é crucial.
R. Vejo os protestos como uma expressão democrática. A classe média exige mais opções do Governo, mais e melhores serviços. Quer mais hospitais, melhor educação, uma vida melhor para seus filhos, porque pagam impostos.
P. Como a senhora avalia então a situação na Venezuela?
R. É complicada. A população está em dificuldade, porque lhe custa encontrar um espaço para o diálogo, e, francamente, a economia está em uma situação muito frágil, a ponto de não poder dar alimentos e serviços básicos à população, tampouco a segurança básica. Deve haver um diálogo em torno dessas questões.
P. Sua organização tem um grupo de trabalho a respeito de Cuba. O debate sempre gira em torno do embargo. Há outra opção?
R. Contamos com uma autorização do Tesouro para enviar delegações. Acredito que, com a legislação atual nos EUA, podem ser feitas coisas fora do embargo. Trabalhamos nesse espaço, procurando reforçar o diálogo entre o setor público e o privado.
P. Vê mudanças na ilha?
R. Cada vez que você vai dá para ver. Há muitos desafios na ilha, porque ela historicamente não teve um setor privado, mas também se apresentam muitas oportunidades para investir. Um dos setores de interesse é o biotecnológico, muito competitivo.
P. Há muitas esperanças com o México. O que a senhora opina sobre as reformas de Peña Nieto?
R. Ele está fazendo um ótimo trabalho, em muitos frentes. Agora o complicado é criar o marco legal adequado para aplicá-las. Se o primeiro ano de governo é o exemplo do que virá no segundo, há motivos para sermos otimistas. Além disso, há a relação com os EUA, e aí a integração industrial ao longo da fronteira é cada vez maior, e isso representa uma oportunidade enorme.
P. Como vê o progresso da mulher na região? As presidentas do Brasil, Chile e Argentina são os casos evidentes.
R. Muitos progressos têm sido feitos, mas é preciso fazer muito mais para obter a paridade, não só na América Latina, também nos EUA. Espero que a região seja capaz de obter o mesmo número de mulheres empresárias que se vê no mundo da política. O desafio é fazer com que as jovens permaneçam em seus empregos. Se elas decidem sair do mercado de trabalho, elas nunca poderão chegar a dirigir uma empresa ou ser senadora. Além disso, a economia de um país não pode ser competitiva se as mulheres abandonam [o mercado de trabalho].