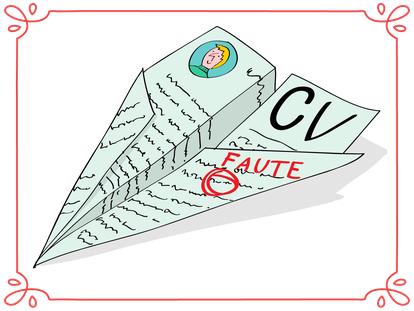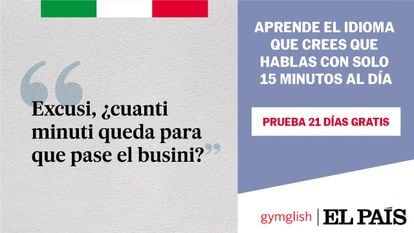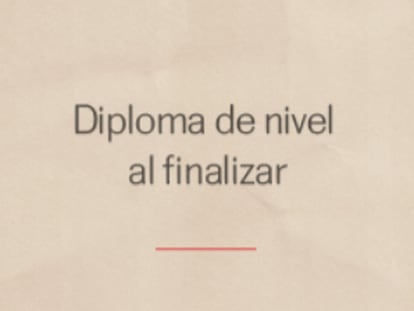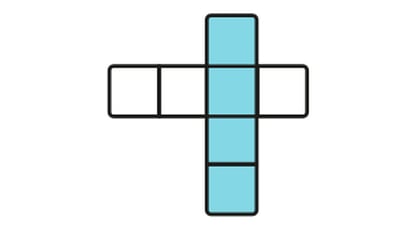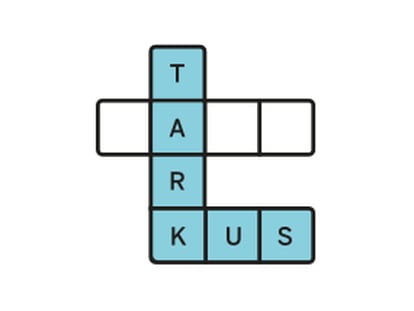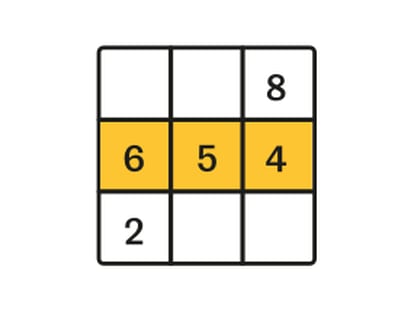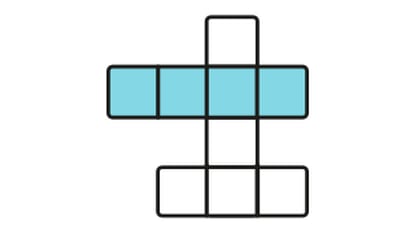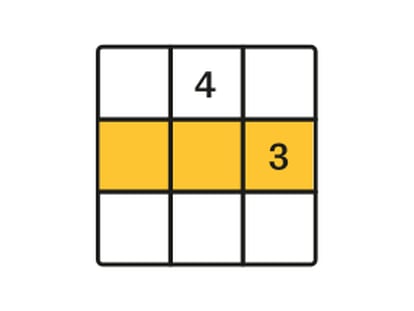“A humilhante derrota abre a caixa preta da sociedade brasileira”
Para o especialista em futebol, os 7X1 tem um papel didático, pois o Brasil começa a repensar a cruel necessidade de tratar a seleção brasileira como compensação para as suas frustrações


Flávio de Campos era um dos 200 milhões de brasileiros que dormiram mal nesta quarta, tentando digerir a amarga derrota da seleção de Felipão para a Alemanha. Mas sua tristeza ia além do 7x1. A crueldade coletiva que se iniciou antes mesmo do final da partida no Mineirão foi um dos motivos da sua insônia. A crucificação dos jogadores que, segundo ele, são na verdade “uma bando de meninos”, quebra-quebra em algumas cidades e xingamentos à presidenta Dilma, enquanto o Brasil tomava a goleada, eram os sintomas do país órfão de outras alegrias que não o futebol. “A expectativa é que a seleção represente a nossa força, a virtude e a criatividade do país”, diz Campos, que coordena o Núcleo Interdisciplinar de Estudos sobre o Futebol (Ludens). “É perverso e cruel jogar a responsabilidade do nosso fracasso nas costas dos meninos”.
Pergunta. Como você está digerindo a derrota assustadora contra a Alemanha?
Resposta. Tenho duas tristezas, dois sentimentos. Uma com o próprio resultado da partida. É evidente que a Alemanha era favorita, pelo jogo mais consistente e organizado. Eu achava que o Brasil ia perder. Mas sempre tem o imponderável no futebol, pois nem sempre o melhor vence. Sempre tem a trave, a zebra, o fio de esperança. Enfim, mas o que houve foi um massacre, um apagão que já vimos no Palmeiras, outro time dirigido pelo Felipão. Estamos com a sensação do nocaute. No box, o lutador vai à lona, e a luta termina. Aqui, não víamos a hora do jogo terminar.
P. E a outra tristeza?
R. Além de perceber a falta de competitividade com os alemães, foi o significado que o futebol tem como elemento de cultura brasileira. A humilhante derrota abre a caixa preta da sociedade. Vivemos no Brasil uma crise de representatividade, um momento em que nosso olhar coletivo é muito frustrante. A percepção é que o sistema político representativo não funciona. Alguns acham que tem de jogar tudo fora. Não é à toa que no primeiro ou no segundo tempo, quando [a torcida] xinga o Fred no campo, volta a xingar a Dilma [assim como na abertura da Copa, no dia 12 de junho]. E essa seleção, de meninos, é de uma crueldade. Nossa expectativa é que represente a força e as virtudes, a valentia, a habilidade, a criatividade, a beleza que nós não temos em outros espaços sociais. É uma espécie de compensação. E nós jogamos para a seleção uma espécie de expectativa de remédio, de solução para coisas que não estamos conseguindo resolver cotidianamente. Aí temos um elemento chave. É cruel. Os nossos jogadores têm a idade dos meus filhos, Neymar tem 22. É perverso e covarde jogar a responsabilidade do fracasso nas costas desses meninos, para que eles compensem o que não entendemos na nossa sociedade.
Há um sentimento infantil dessa geração. O discurso de David Luiz, de chorar dizendo que queria dar essa alegria para o Brasil, é muito ruim
P. É muita pressão para tão pouca idade, ainda mais jogando em Copa, ou seja, com a obrigação de ganhar?
R. O Gilberto Maringoni (candidato a governador de São Paulo pelo PSOL) tem uma definição para os black blocs interessante, ao dizer que eles são meninos que tentam ser super heróis com suas máscaras e suas armas de destruição. É um sentimento infantil dessa geração. O discurso de David Luiz, de chorar dizendo que queria dar essa alegria para o Brasil, é quase uma missão nessa linha descrita por Marangoni para os black blocs. Querer salvar o país, armar um time, esse voluntarismo excessivo, quase messiânico, que ele encarnou. É muito ruim. Seja para o futebol, seja para a sociedade. A gente não precisa de Messias, desse voluntarismo desenfreado. Esse é o grande equívoco. Precisamos de atitudes coletivas. Menos covardia e menos hipocrisia. A nossa atitude como cidadãos nos representa.
P. Essa tentativa de encontrar heróis é buscar constantemente reconstruir um mito como Pelé?
R. Veja como como foi construída a história do Pelé e desses meninos. A Copa de 1958. O melhor jogador naquele ano não foi Pelé e nem Garrincha. Mas a história posterior vai construir essa ideia. A imprensa que acompanhou 58 elegeu Didi como o melhor jogador da época. Na maior parte das partidas, ele não é um fenômeno. Ele é um excelente jogador, que tem um excelente desempenho. Quando a Suécia faz o primeiro gol, e o Brasil sai perdendo, o Didi é o cara que vai até o fundo da rede, vem andando calmamente e diz – vamos jogar. Ele é o líder, o que organiza. É o Didi junto com o Gilmar e colocam o Pelé no ombro, depois da partida. O que quero dizer é que o Pelé, sim, foi um dos maiores jogadores de todos os tempos. O Garrincha idem. Mas essas seleções brasileiras sempre tiveram outros atletas extremamente importantes. Nós precisamos de reis, de salvadores da pátria, de fenômenos, de príncipes. O Pelé foi rei do futebol. Rivelino, do parque, da seleção em 75. Ronaldo, o fenômeno. E estamos em vias de construir no Neymar, algo semelhante.
P. Por que esse apoio no futebol como esteio do país?
R. Acredita-se que basta força de vontade no campo de futebol ou no campo da sociedade, de que temos soluções mágicas. Isso é grave, porque a gente tem de aprender com isso. Aprender com o que aconteceu. Não é fazer caça às bruxas. Não é abrir inquisição. Não é procurar exterminar ninguém, como leio nas redes sociais. O ódio e ferocidade, seja em relação à seleção ou a algumas figuras públicas. Esse ódio e crueldade é pernicioso a qualquer reflexão mais sensata. Se há algo a fazer, é não demonizar pessoas ou procurar jogar responsabilidades em um ou outro para aliviar.
P. Em 1950, houve o Maracanazo que condenou o goleiro Barbosa. Mas somos diferentes daquela época, uma vez que existem até profissionais como você para estudar o futebol e a sociedade. O que muda?
Caiu o viaduto da oposição [em Belo Horizonte]. Mas parece que é da conta da Dilma
R. Nós somos diferentes. O Brasil é diferente dos anos 50. Você vai encontrar um monte de gente debatendo sobre isso, e não só especialistas de futebol. Não só estudiosos. No mesmo dia do jogo, já aconteceram brigas e depredações em função do resultado da Copa. É tudo muito complexo. A quantidade de informações de rádio e internet e jornais, isso até gera uma avalanche de informações e precisa circular. Somos também muito diferentes de década de 50, quando o futebol era outra coisa. O que se joga no passado é muito diferente de hoje. O futebol-arte parecia que era um patrimônio exclusivo do Brasil. Mas em 1954, a Hungria tinha um futebol extraordinário. Houve Di Stefano, com a Argentina. Com esse mercado de circulação de atletas, e a possibilidade de assistir a partidas de outros países a uma difusão de saberes de apropriações de manejos táticos do futebol, de modo que ninguém pode se surpreender, pois tudo é muito conhecido. Ontem[terça], quando a Alemanha joga com um futebol bonito, de drible, e nós com chutões de ligação direta de defesa para o ataque. O David Luiz, nosso maior armador? Como assim? Enquanto a Alemanha joga toque de bola, se infiltra e faz muitos gols. Aí a nossa analise é que nós estamos jogando futebol europeu, e eles, o brasileiro. Não, isso não é patrimônio do Brasil.
P. Mas na década de 50 o Brasil era um país que tinha apenas 60 anos de República e de abolição da escravatura, um país muito diferente. Será que não seremos menos cruéis para julgar os atuais “Barbosas”?
R. Essa comparação é muito complicada. São duas sociedades diferentes, a de 50 e a de hoje. A história do Barbosa, aliás, é polêmica entre os estudiosos, pois na época da Copa ele não teria sido crucificado. Construiu-se a perseguição anos depois. Naquele tempo a sociedade cai em cima da organização da Copa, e no trânsito livre dos políticos que ocupam os estádios. Hoje isso não acontece. Em compensação, hoje há uma presença excessiva da mídia, em especial da Rede Globo, e um papel forte dos patrocinadores, a começar com os comerciais do Felipão, para o marketing de produtos. Há uma exposição excessiva dos jogadores, que se tornam heróis num dia, e no dia seguinte se tornam vilões. Difícil essa comparação.
P. O resultado da Copa vai influenciar a eleição?
R. Já interferiu, desde junho de 2013. Já desidratou o apoio à Dilma. Ela perdeu mais de 30% de apoio num ano. Ela veio articulando as demandas sociais. O mais visível não é a Petrobras, por exemplo. O mais visível é a Copa. E é em cima disso que vai ser desferida a campanha. Mas veja, a previsão catastrófica não se realizou. Nenhum estádio desmoronou. Caiu o viaduto da oposição [em Belo Horizonte]. Mas parece que é da conta da Dilma. O prefeito é do PSB e o governo de Minas Gerais é do PSDB. Aqui está o ponto. A percepção que fica para a sociedade brasileira. O mal intencionado vai creditar o viaduto na conta da Dilma.
P. Ela perderá apoio com o 7x1?
Tomar de sete mexe com as entranhas da gente. E o hábito nosso é procurar jogar isso para cima de alguém. A primeira vítima foi o Felipão. E a próxima é a Dilma.
R. Eu sou capaz de apostar que a Dilma cai. Essa depressão precisa ser descarregada, e isso será explorado. Seja direta ou indiretamente. Aí aqueles discursos mais malucos que a Copa já estava comprada. Agora, se o resultado da partida contra a Alemanha fosse digerível, ficaria com a derrota. Mas tomar de sete mexe com as entranhas da gente. E o hábito nosso é procurar jogar isso para cima de alguém. A primeira vítima foi o Felipão. E a próxima é a Dilma.
P. Mesmo com tudo contra, até os mais revoltados com a Copa apoiaram o evento, se fantasiaram. Ninguém resistiu?
R. Quem estava nos estádios desta Copa era uma classe media imbecil, ágrafa, rasteira, reacionária e que não sabia torcer. Tanto que teve que ensaiar musiquinha [para apoiar a seleção]. Essa classe média branca, incomodadíssima em compartilhar espaços em aeroportos, foi claramente contagiada pela festa. Se fantasiou e se deixou levar pela ilusão. Isso não é ruim. Quantas pessoas não aprenderam o que é futebol, a alfabetização sobre o jogo. E gostaria que esse público aprendesse a assumir sua responsabilidade social, para um sociedade sem ódio, sem privilégio. Esse comportamento precisa ser corrigido. E então, agora, começa a eleição. É outra partida. Que não é contra a Alemanha, mas que vamos jogar contra nós mesmo, essa é a partida mais importante.
Arquivado Em
- Dilma Rousseff
- Copa do Mundo 2014
- Neymar
- Presidente Brasil
- Fase final
- Copa do Mundo Futebol
- Copa do mundo
- Brasil
- Presidência Brasil
- Futebol
- Campeonato mundial
- América do Sul
- América Latina
- Governo Brasil
- Competições
- América
- Governo
- Esportes
- Administração Estado
- Administração pública
- Partido dos Trabalhadores
- Partidos políticos
- Política